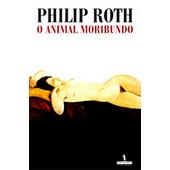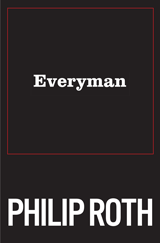Os últimos livros de Philip Roth falam da morte, ou melhor, o que ela diz aos que permanecem vivos ou aos que dela se aproximam: Everyman (2006, ainda sem edição portuguesa) e «O Animal Moribundo» (The Dying Animal, 2001/D.Quixote, 2006). Melhor que outros, os que se abeiram desse precipício sabem falar, e bem, de outras coisas como o amor: As pessoas pensam que ao amar se tornam inteiras, completas? A união platónica das almas? Eu não penso assim. Penso que estamos inteiros antes de começarmos. E o amor fractura-nos. Estás inteiro e depois estás fracturado, aberto (O Animal Moribundo, pg.86).
Etiquetas
- literatura (3)
- som (3)
Abra de alguma lucidez audível / o que nem sabe-se por palavras nem / na música caminha, nem o silêncio anuncia-o [...] (J.O.Travanca Rego)
29 dezembro, 2006
19 dezembro, 2006
18 dezembro, 2006
Os Fragmentos do Mundo


Ouve-se sempre a Distância numa Voz
Rui Nunes
Relógio d’Água Editores, 2006
Toco uma cara e a pessoa é só o pedaço que toco, toco uma parede e a parede é só o pedaço que toco, é um mundo aos pedaços. (pg.124)
A literatura tem na sua natureza a capacidade de, com uma frase, poder soltar o mundo que até então esteve encoberto pela sombra que o dia projecta na nossa vida. A obra que Rui Nunes tem vindo a construir desde o final da década de 60 (Margens, 1968), projecta sobre os nossos dias não apenas a visibilidade da condição humana neste fim do moderno (a tragédia, a ironia, a errância e a doença) mas a substância que constitui um novo homem: o fragmento como categoria estética. Não apenas o fragmento narrativo que foi sólida construção nas artes após a Primeira Guerra Mundial, mas também o fragmento que os sentidos, sobretudo a visão e a audição, cedem à nossa memória, reprogramada agora para aniquilar a imagem do que foi noutros tempos o desperdício do tempo, o prazer e o ócio.
Tudo o que nos rodeia se dá aos sentidos, «tudo se dá a ver, a ouvir, a paisagem está cheia de ruído» (pg.8). Se nos livros anteriores de Rui Nunes a visão era hegemónica, conduzindo a narrativa pela microscopia e na obsessão em descobrir os pedaços de mundo que, implicitamente, nos constituem, em «Ouve-se Sempre a Distância numa Voz» a audição ganha especial relevo, participando da formação da prosa do mundo, rivalizando com a visão na melhor imagem da degradação do núcleo íntimo, familiar, e por fim da geografia.
Esta degradação não pode ser entendida em paralelo com uma tábua de valores éticos ou morais consentida secularmente pelo Ocidente, mas pelo que na aniquilação desse quadro normativo é uma passagem para um novo ethos: um homem avistando-se no fim de si, como se numa estação se visse, vendo a debandada de todos os homens para outros lugares, outras geografias, sobretudo afectivas. E depois é preciso que o narrador se coloque num sítio central, donde possa avistar o passado e o futuro em (des)construção. Nesse sítio há já falta de palavras para descrever não apenas a paisagem mas todas as relações, não se entendendo relevo qualitativo e moral entre o dejecto e o proveito; entre o ódio e o amor: «isto, isto: eis o nome que sei dar às coisas». Apenas a natureza permanece em descrição, evocativa, não de um tempo humano que se perdeu, mas de uma terra que vive e anima os sentidos. Na obra de Rui Nunes não estamos perante a descrição do deserto-lugar. Há o sol e a água que faz crescer no interior do seu texto o alimento e os frutos, e com eles toda a memória com cheiros e tudo. Como se para descrevermos a morte de Abel por Caim não esquecêssemos de dar conta do trabalho e dos dias, dos regatos de água fresca, do ruído dos animais selvagens, da construção de uma vida, vidas, para além de Abel.
Na narrativa deste autor parece haver sempre uma luz ruidosa e optimista, uma vontade: vou dar conta da morte, da doença e da degeneração, mas por outro lado, vou dar conta da paisagem, onde tudo ocorre, imutável, ineficaz para parar a corrupção, altiva e distante como se viesse de um tempo longínquo e estivesse agora junto ao homem, de passagem, não se importando com o que pode vir a acontecer-lhe. Claro que não basta avistar e descrever este passado, não basta ser o sujeito de uma história, é preciso ser também um sujeito adâmico, que expulso do paraíso, vê o seu dia, todos os dias futuros, serem reconduzidos à dor e ao choro.
Aqui, «cada nome leva em si uns lábios como a sua vida: às vezes decresce e torna-se segredo, uma confissão, outras vezes desdobra-se e enche a vereda, as silvas, as fragas, os arados, os passos; às vezes pára na árvore e a árvore estremece, outras vezes pára no voo e torna-o vertiginoso; às vezes é seta, bala, o vento refulgente, as estátuas de sal, outras vezes debruça-se para mim e abre-se na face que não suspeitei amar.» (pg.11).
O lugar onde o autor instala as personagens, esse lugar charneira, central e adutor, não é o lugar do farol que na escarpa avisa os navegantes. Não, é um lugar em deserto, ele-mesmo em construção, como todos os minúsculos lugares do deserto. De um dia para o outro, de uma noite para o dia, o deserto é outro. Quando se cartografa esses lugares, varrendo o passado e expectando o futuro, esse mapa fica a pertencer ao limite árido: no dia seguinte há sempre um novo traçado para o deserto, novas orientações.
Não tem este texto, e possivelmente toda a obra de Rui Nunes, a perspectiva moderna do romance, ie, de ler uma época e representá-la. Esta noção romanesca perdeu-se há muito (embora alguns insistam nesse desígnio), «a dimensão do tempo foi reduzida a pedaços, não podemos viver ou pensar senão bocados do tempo que se afastam cada um deles ao longo da sua trajectória e de súbito desaparecem. A continuidade do tempo já só podemos encontrá-la nos romances da época em que o tempo já não se mostrava parado mas ainda não aparecia como em explosão, uma época que durou mais ou menos cem anos, e depois acabou» (Ítalo Calvino, Se numa Noite de Inverno um Viajante). É, portanto, de um lugar pobre e nu que se fala; um lugar de transumância que vive do dia e de uma língua, em degradação progressiva, que faz um esforço para se transumanar, tornar vivo e humano por fora o que por dentro parece já ter sucumbido ao tempo e ao seu fazer-se.
Mas voltemos à paisagem, ao ruído que fazem as folhas a caírem; ao ruído que todas as imagens trazem para dentro desta história, desde o alto céu ao rés do chão. «Tudo se torna som», mesmo a rola morta pelo caçador cuja morte «vai de tronco em tronco, até à esteva que em baixo parece retardá-la, ou recolhê-la num instante, para depois a deixar cair no chão» (pg.15). Todo o universo é sonoro e por isso é «bom escolher uma das folhas e segui-la na sua queda, a leveza do som quando toca o pedrisco, o silêncio que esse som depõe no chão, num emaranhado de luz, é o som da luz» (pg.23). É o som possível de um reflexo esquecido na visão.
É preciso fazer as palavras dizerem esse som, mesmo o da morte a cair, ou da paisagem contaminada. Há nesta narrativa uma necessidade visceral: de não deixar fendas abertas ao imprevisto, porque isso é dor; não deixar que o vazio na linguagem irrompa e destroce o mundo; não deixar que o silêncio, que é quase sempre solidão, atinja a superfície das palavras, que o mesmo é dizer da paisagem, e nos sufoque: «o silêncio é uma sufocação» (pg.32). E desta necessidade é feito o lugar, um lugar de invocação das relações humanas, dos seus trágicos destinos. É preciso invocar, da infância à velhice, o que a vida contemporânea não consente ou não quer incorporar no que é, em todos os nós, o rastro dos nossos dias, feitos, sobretudo, de restos, do que ficou por fazer. No palco que é este livro, os sons lutam continuamente contra o envelhecimento das imagens. É preciso que a voz se ouça: a «voz esconde sempre o seu passado» (pg.51). E por isso as personagens confundem-se, ganham vidas e afectos de outros, para que não pereçam no silêncio de que é feito a sua individualidade, o ímpar.
Como o amor também a vingança precisa do outro, para que o existir seja também estar vivo (subtítulos: famílias e vingança) e para se morrer. Não é preciso acreditar no amor, em deus, na vida ou na morte, é preciso, sim, acreditar no nome, que é uma palavra para soletrar, escrever e nela nos perdermos. Tudo é descrição. Do lugar donde esta narração se projecta não há tempo para se fundarem essas palavras, não há lentura nessa exígua geografia, apenas um corpo «esquecido pela sua história» que se restringe ao que vê e ouve. Não porque não conheçam as personagens a semântica dessas palavras, mas porque doem no corpo da sua história. Todos eles, mulheres e homens, que da infância em recordação caminham pelas bermas das estradas, pelos silvados, pelas ruínas de um casario que em tempos foi abrigo de famílias, já não querem ser outros. Desejam ser apenas a falha. Ninguém lhes pode tirar este desejo: desejam ser a falha que as palavras afastam, como um instrumento cirúrgico que separa as margens da ferida ou do corte para se ver o tecido ou o órgão. Querem falar alto, insultar, repisar com palavras os mesmos sentimentos, não para aproximar mas para afastar, pois todos eles têm medo. Entre as palavras brutais e sementes, eles preferem as brutais, pois estas são pobres, repousam no limiar da sua própria sobrevivência, prontas a fragmentarem-se. Nada de diálogos, pois as «palavras passam de um corpo a outro, de uma boca a outra, e transformam o novo corpo no mesmo corpo e a boca na mesma boca, ou seja, no seu corpo e na sua boca» (pg.103). Estas palavras que unem a comunidade, e o seu desígnio, reaparecem por vezes, noutra boca, noutro corpo, trazendo por trás o gesto distinto da morte. Da nossa morte. É isso que sentimos em Auschwitz ou no discurso de um ditador. Ao humano nada mais resta do que retirar as palavras ao poder ou retirar-lhes poder, dar-lhes um uso distinto. «O que eu quero é perder as palavras, desorientá-las, destruí-las, desentendê-las, para recomeçar com uma palavra que inicie a sua história nos meus lábios (…) o que eu quero é acabar com as palavras de todo o poder, porque o poder fala sempre da mesma maneira, nele as palavras têm sempre o mesmo som» (pg.103). O que estas personagens desejam é que o outro continue a ofender, que não haja nelas nenhum sinal de apaziguamento, pois elas sabem que a paz nas palavras trazem sempre o silêncio e o medo. Uma palavra na ruína, após Babel, é o que procuram. Uma palavra recolhida na sua original pobreza numa casa abandonada e numa terra vazia.
Assim chegámos a este século. E não havendo já desenho da intimidade, perdida a noção de lar, só o que de longe vem, uma voz, que é sobretudo ruído, nos traz a distância, a ilusão e o desejo, e a população daqueles que ainda pertencem à comunidade dos vivos: que choram, bebem, morrem mas também amam e fabricam as suas casas com esta substância. Não podemos viver sem eles: eles são os nossos extraterrestres, uma espécie de salvação para a nossa solidão.
Rui Nunes
Relógio d’Água Editores, 2006
Toco uma cara e a pessoa é só o pedaço que toco, toco uma parede e a parede é só o pedaço que toco, é um mundo aos pedaços. (pg.124)
A literatura tem na sua natureza a capacidade de, com uma frase, poder soltar o mundo que até então esteve encoberto pela sombra que o dia projecta na nossa vida. A obra que Rui Nunes tem vindo a construir desde o final da década de 60 (Margens, 1968), projecta sobre os nossos dias não apenas a visibilidade da condição humana neste fim do moderno (a tragédia, a ironia, a errância e a doença) mas a substância que constitui um novo homem: o fragmento como categoria estética. Não apenas o fragmento narrativo que foi sólida construção nas artes após a Primeira Guerra Mundial, mas também o fragmento que os sentidos, sobretudo a visão e a audição, cedem à nossa memória, reprogramada agora para aniquilar a imagem do que foi noutros tempos o desperdício do tempo, o prazer e o ócio.
Tudo o que nos rodeia se dá aos sentidos, «tudo se dá a ver, a ouvir, a paisagem está cheia de ruído» (pg.8). Se nos livros anteriores de Rui Nunes a visão era hegemónica, conduzindo a narrativa pela microscopia e na obsessão em descobrir os pedaços de mundo que, implicitamente, nos constituem, em «Ouve-se Sempre a Distância numa Voz» a audição ganha especial relevo, participando da formação da prosa do mundo, rivalizando com a visão na melhor imagem da degradação do núcleo íntimo, familiar, e por fim da geografia.
Esta degradação não pode ser entendida em paralelo com uma tábua de valores éticos ou morais consentida secularmente pelo Ocidente, mas pelo que na aniquilação desse quadro normativo é uma passagem para um novo ethos: um homem avistando-se no fim de si, como se numa estação se visse, vendo a debandada de todos os homens para outros lugares, outras geografias, sobretudo afectivas. E depois é preciso que o narrador se coloque num sítio central, donde possa avistar o passado e o futuro em (des)construção. Nesse sítio há já falta de palavras para descrever não apenas a paisagem mas todas as relações, não se entendendo relevo qualitativo e moral entre o dejecto e o proveito; entre o ódio e o amor: «isto, isto: eis o nome que sei dar às coisas». Apenas a natureza permanece em descrição, evocativa, não de um tempo humano que se perdeu, mas de uma terra que vive e anima os sentidos. Na obra de Rui Nunes não estamos perante a descrição do deserto-lugar. Há o sol e a água que faz crescer no interior do seu texto o alimento e os frutos, e com eles toda a memória com cheiros e tudo. Como se para descrevermos a morte de Abel por Caim não esquecêssemos de dar conta do trabalho e dos dias, dos regatos de água fresca, do ruído dos animais selvagens, da construção de uma vida, vidas, para além de Abel.
Na narrativa deste autor parece haver sempre uma luz ruidosa e optimista, uma vontade: vou dar conta da morte, da doença e da degeneração, mas por outro lado, vou dar conta da paisagem, onde tudo ocorre, imutável, ineficaz para parar a corrupção, altiva e distante como se viesse de um tempo longínquo e estivesse agora junto ao homem, de passagem, não se importando com o que pode vir a acontecer-lhe. Claro que não basta avistar e descrever este passado, não basta ser o sujeito de uma história, é preciso ser também um sujeito adâmico, que expulso do paraíso, vê o seu dia, todos os dias futuros, serem reconduzidos à dor e ao choro.
Aqui, «cada nome leva em si uns lábios como a sua vida: às vezes decresce e torna-se segredo, uma confissão, outras vezes desdobra-se e enche a vereda, as silvas, as fragas, os arados, os passos; às vezes pára na árvore e a árvore estremece, outras vezes pára no voo e torna-o vertiginoso; às vezes é seta, bala, o vento refulgente, as estátuas de sal, outras vezes debruça-se para mim e abre-se na face que não suspeitei amar.» (pg.11).
O lugar onde o autor instala as personagens, esse lugar charneira, central e adutor, não é o lugar do farol que na escarpa avisa os navegantes. Não, é um lugar em deserto, ele-mesmo em construção, como todos os minúsculos lugares do deserto. De um dia para o outro, de uma noite para o dia, o deserto é outro. Quando se cartografa esses lugares, varrendo o passado e expectando o futuro, esse mapa fica a pertencer ao limite árido: no dia seguinte há sempre um novo traçado para o deserto, novas orientações.
Não tem este texto, e possivelmente toda a obra de Rui Nunes, a perspectiva moderna do romance, ie, de ler uma época e representá-la. Esta noção romanesca perdeu-se há muito (embora alguns insistam nesse desígnio), «a dimensão do tempo foi reduzida a pedaços, não podemos viver ou pensar senão bocados do tempo que se afastam cada um deles ao longo da sua trajectória e de súbito desaparecem. A continuidade do tempo já só podemos encontrá-la nos romances da época em que o tempo já não se mostrava parado mas ainda não aparecia como em explosão, uma época que durou mais ou menos cem anos, e depois acabou» (Ítalo Calvino, Se numa Noite de Inverno um Viajante). É, portanto, de um lugar pobre e nu que se fala; um lugar de transumância que vive do dia e de uma língua, em degradação progressiva, que faz um esforço para se transumanar, tornar vivo e humano por fora o que por dentro parece já ter sucumbido ao tempo e ao seu fazer-se.
Mas voltemos à paisagem, ao ruído que fazem as folhas a caírem; ao ruído que todas as imagens trazem para dentro desta história, desde o alto céu ao rés do chão. «Tudo se torna som», mesmo a rola morta pelo caçador cuja morte «vai de tronco em tronco, até à esteva que em baixo parece retardá-la, ou recolhê-la num instante, para depois a deixar cair no chão» (pg.15). Todo o universo é sonoro e por isso é «bom escolher uma das folhas e segui-la na sua queda, a leveza do som quando toca o pedrisco, o silêncio que esse som depõe no chão, num emaranhado de luz, é o som da luz» (pg.23). É o som possível de um reflexo esquecido na visão.
É preciso fazer as palavras dizerem esse som, mesmo o da morte a cair, ou da paisagem contaminada. Há nesta narrativa uma necessidade visceral: de não deixar fendas abertas ao imprevisto, porque isso é dor; não deixar que o vazio na linguagem irrompa e destroce o mundo; não deixar que o silêncio, que é quase sempre solidão, atinja a superfície das palavras, que o mesmo é dizer da paisagem, e nos sufoque: «o silêncio é uma sufocação» (pg.32). E desta necessidade é feito o lugar, um lugar de invocação das relações humanas, dos seus trágicos destinos. É preciso invocar, da infância à velhice, o que a vida contemporânea não consente ou não quer incorporar no que é, em todos os nós, o rastro dos nossos dias, feitos, sobretudo, de restos, do que ficou por fazer. No palco que é este livro, os sons lutam continuamente contra o envelhecimento das imagens. É preciso que a voz se ouça: a «voz esconde sempre o seu passado» (pg.51). E por isso as personagens confundem-se, ganham vidas e afectos de outros, para que não pereçam no silêncio de que é feito a sua individualidade, o ímpar.
Como o amor também a vingança precisa do outro, para que o existir seja também estar vivo (subtítulos: famílias e vingança) e para se morrer. Não é preciso acreditar no amor, em deus, na vida ou na morte, é preciso, sim, acreditar no nome, que é uma palavra para soletrar, escrever e nela nos perdermos. Tudo é descrição. Do lugar donde esta narração se projecta não há tempo para se fundarem essas palavras, não há lentura nessa exígua geografia, apenas um corpo «esquecido pela sua história» que se restringe ao que vê e ouve. Não porque não conheçam as personagens a semântica dessas palavras, mas porque doem no corpo da sua história. Todos eles, mulheres e homens, que da infância em recordação caminham pelas bermas das estradas, pelos silvados, pelas ruínas de um casario que em tempos foi abrigo de famílias, já não querem ser outros. Desejam ser apenas a falha. Ninguém lhes pode tirar este desejo: desejam ser a falha que as palavras afastam, como um instrumento cirúrgico que separa as margens da ferida ou do corte para se ver o tecido ou o órgão. Querem falar alto, insultar, repisar com palavras os mesmos sentimentos, não para aproximar mas para afastar, pois todos eles têm medo. Entre as palavras brutais e sementes, eles preferem as brutais, pois estas são pobres, repousam no limiar da sua própria sobrevivência, prontas a fragmentarem-se. Nada de diálogos, pois as «palavras passam de um corpo a outro, de uma boca a outra, e transformam o novo corpo no mesmo corpo e a boca na mesma boca, ou seja, no seu corpo e na sua boca» (pg.103). Estas palavras que unem a comunidade, e o seu desígnio, reaparecem por vezes, noutra boca, noutro corpo, trazendo por trás o gesto distinto da morte. Da nossa morte. É isso que sentimos em Auschwitz ou no discurso de um ditador. Ao humano nada mais resta do que retirar as palavras ao poder ou retirar-lhes poder, dar-lhes um uso distinto. «O que eu quero é perder as palavras, desorientá-las, destruí-las, desentendê-las, para recomeçar com uma palavra que inicie a sua história nos meus lábios (…) o que eu quero é acabar com as palavras de todo o poder, porque o poder fala sempre da mesma maneira, nele as palavras têm sempre o mesmo som» (pg.103). O que estas personagens desejam é que o outro continue a ofender, que não haja nelas nenhum sinal de apaziguamento, pois elas sabem que a paz nas palavras trazem sempre o silêncio e o medo. Uma palavra na ruína, após Babel, é o que procuram. Uma palavra recolhida na sua original pobreza numa casa abandonada e numa terra vazia.
Assim chegámos a este século. E não havendo já desenho da intimidade, perdida a noção de lar, só o que de longe vem, uma voz, que é sobretudo ruído, nos traz a distância, a ilusão e o desejo, e a população daqueles que ainda pertencem à comunidade dos vivos: que choram, bebem, morrem mas também amam e fabricam as suas casas com esta substância. Não podemos viver sem eles: eles são os nossos extraterrestres, uma espécie de salvação para a nossa solidão.
15 dezembro, 2006
Sobre «Profanações» de Agamben

PROFANAÇÕES
Giorgio Agamben
Livros Cotovia, 2006
(Georges Seurat -Models)
Há neste livro um ensaio Elogio da Profanação que escrito à luz de alguns conceitos operativos que o filósofo italiano retraça desde a teologia, passando por Walter Benjamin, ilumina o tempo em que vivemos. O primeiro conceito é o de profanação, que era na origem a acção de restituir ao uso humano o que era do domínio do religioso e que se opõe, etimologicamente, a consagrar (exemplo: a consagração das hóstias que vão ser usadas na missa). Ainda agora a consagração e a profanação é uma separação, sendo a primeira, na origem, o sacrifício bem inventariado nos livros da antropologia e arqueologia humana. Na verdade, o sentido de profanação esteve desde sempre unido à religião, a uma acção de desacralização, e é por esta via que Agamben nos conduz até ao termo religio, não entendido como «aquilo que liga e une o humano e o divino» (religare), mas a atitude de distanciamento que deve sempre marcar a relação com deus (relegare). Então, o termo Religio não significa aqui o que une o humano à entidade divina, mas «o que zela por mantê-los distintos». Nada disto tem a ver com secularização que deve ser entendida como uma deslocação de funções e acções. Ao contrário da secularização, a profanação implicava em manter intacto o poder, desviando o espectro daquilo que é profanado, restituindo-o «ao uso», mesmo o próprio espaço que estava destinado a outro modelo.
Com o cristianismo e o sacrifício (redentor) iniciático, a acção sacrificial deixou de fazer a «repartição do uso entre os humanos e o divino». Com o sacrifício de um deus pelos homens, aquilo que era do divino entrou em colapso no moderno, imergindo no do domínio humano e posicionando o homem no limite, no precipício, «prestes a trespassar o divino». E é aqui que nasce, no entender de Agamben (e seguindo Benjamin no seu ensaio O Capitalismo como Religião), uma nova religião, o Capitalismo, que é, «essencialmente um fenómeno religioso» que se desenvolveu, sobre membros que são o uso e a religião, a partir do Cristianismo e se constitui como uma nova religião da modernidade. São-lhe atribuídas três qualidades: primeira, «é uma religião de culto», mais que todas as outras existentes; segundo, não há separação entre o sagrado e o profano, entre o lúdico e o trabalho, tudo é trabalho e este é o culto; terceiro, o culto desta religião não pretende uma aproximação ao sagrado, a uma expiação mas é a própria culpa, uma consciência em culpa que deseja ser universal e, no fim, «enredar o próprio Deus nessa culpa». A morte de deus celebrada tem como motivo a sua deslocação para o interior do destino humano e da sua condição. E se atendermos que vivemos desde esta «descoberta» no desespero, e não sendo possível o uso da palavra esperança (visível em muitos slogans sistemáticos), nem do jogo redentor do tempo, o que a religião Capitalista visa não é «a transformação do mundo, mas a sua destruição». Pode ser que esta destruição visada seja apenas uma passagem, não o sabemos, nem interessa ao tema. Mas revemos nesta qualificação as profecias de Marx, Freud e Nietzsche (o ethos do super-homem), bem como a opinião crítica do Novo Ocidente, nascido do desgaste religioso. Realizando a separação extrema, que o mesmo é dizer, realizando a separação do único, o profano coincide, também em vazio, com o consagrado. Tudo o que o homem é, faz e pode perdurar, incluindo o próprio corpo, é dividido não sendo mais possível o uso. É então criada a divisão do consumo em espectáculo que, como bem viram alguns Situacionistas, não são mais do que as duas faces da mesma moeda: o impossível acto do uso que não é mais do que o impossível presente. Somos memória e expectativa, passado e futuro e por todas as aldeias, vilas e cidades do globo isto é visível, quando em frases publicitárias os lugares, e neles as populações, se resumem a uma frase começada por «o museu da…». Ora, o museu é a «impossibilidade» de usar. Na verdade, quando geografias inteiras querem ser declaradas património mundial, querem ser declaradas Museu. Progressivamente, «as potências espirituais que definiam a vida dos homens – a arte, a religião, a filosofia, a ideia de natureza, a política, até – retiraram-se para o Museu», e isto só significa trocar o valor de uso pelo valor de exposição (conceito usado por Benjamin no seu célebre ensaio, A Obra de Arte na Era da sua Reprodutibilidade Técnica), e este valor torna impossível a habitação. O museu é na religião Capitalista o que era noutras a Igreja ou o Templo, e as hordas que aí afluem já não são peregrinos mas turistas («a primeira indústria do mundo»). «Museu não significa aqui um lugar ou um espaço físico determinado, mas a dimensão separada para a qual se transfere aquilo que, em tempos, era sentido como verdadeiro e decisivo e, agora, já não o é».
Profanar o improfanável «é a missão política da próxima geração».
Giorgio Agamben
Livros Cotovia, 2006
(Georges Seurat -Models)
Há neste livro um ensaio Elogio da Profanação que escrito à luz de alguns conceitos operativos que o filósofo italiano retraça desde a teologia, passando por Walter Benjamin, ilumina o tempo em que vivemos. O primeiro conceito é o de profanação, que era na origem a acção de restituir ao uso humano o que era do domínio do religioso e que se opõe, etimologicamente, a consagrar (exemplo: a consagração das hóstias que vão ser usadas na missa). Ainda agora a consagração e a profanação é uma separação, sendo a primeira, na origem, o sacrifício bem inventariado nos livros da antropologia e arqueologia humana. Na verdade, o sentido de profanação esteve desde sempre unido à religião, a uma acção de desacralização, e é por esta via que Agamben nos conduz até ao termo religio, não entendido como «aquilo que liga e une o humano e o divino» (religare), mas a atitude de distanciamento que deve sempre marcar a relação com deus (relegare). Então, o termo Religio não significa aqui o que une o humano à entidade divina, mas «o que zela por mantê-los distintos». Nada disto tem a ver com secularização que deve ser entendida como uma deslocação de funções e acções. Ao contrário da secularização, a profanação implicava em manter intacto o poder, desviando o espectro daquilo que é profanado, restituindo-o «ao uso», mesmo o próprio espaço que estava destinado a outro modelo.
Com o cristianismo e o sacrifício (redentor) iniciático, a acção sacrificial deixou de fazer a «repartição do uso entre os humanos e o divino». Com o sacrifício de um deus pelos homens, aquilo que era do divino entrou em colapso no moderno, imergindo no do domínio humano e posicionando o homem no limite, no precipício, «prestes a trespassar o divino». E é aqui que nasce, no entender de Agamben (e seguindo Benjamin no seu ensaio O Capitalismo como Religião), uma nova religião, o Capitalismo, que é, «essencialmente um fenómeno religioso» que se desenvolveu, sobre membros que são o uso e a religião, a partir do Cristianismo e se constitui como uma nova religião da modernidade. São-lhe atribuídas três qualidades: primeira, «é uma religião de culto», mais que todas as outras existentes; segundo, não há separação entre o sagrado e o profano, entre o lúdico e o trabalho, tudo é trabalho e este é o culto; terceiro, o culto desta religião não pretende uma aproximação ao sagrado, a uma expiação mas é a própria culpa, uma consciência em culpa que deseja ser universal e, no fim, «enredar o próprio Deus nessa culpa». A morte de deus celebrada tem como motivo a sua deslocação para o interior do destino humano e da sua condição. E se atendermos que vivemos desde esta «descoberta» no desespero, e não sendo possível o uso da palavra esperança (visível em muitos slogans sistemáticos), nem do jogo redentor do tempo, o que a religião Capitalista visa não é «a transformação do mundo, mas a sua destruição». Pode ser que esta destruição visada seja apenas uma passagem, não o sabemos, nem interessa ao tema. Mas revemos nesta qualificação as profecias de Marx, Freud e Nietzsche (o ethos do super-homem), bem como a opinião crítica do Novo Ocidente, nascido do desgaste religioso. Realizando a separação extrema, que o mesmo é dizer, realizando a separação do único, o profano coincide, também em vazio, com o consagrado. Tudo o que o homem é, faz e pode perdurar, incluindo o próprio corpo, é dividido não sendo mais possível o uso. É então criada a divisão do consumo em espectáculo que, como bem viram alguns Situacionistas, não são mais do que as duas faces da mesma moeda: o impossível acto do uso que não é mais do que o impossível presente. Somos memória e expectativa, passado e futuro e por todas as aldeias, vilas e cidades do globo isto é visível, quando em frases publicitárias os lugares, e neles as populações, se resumem a uma frase começada por «o museu da…». Ora, o museu é a «impossibilidade» de usar. Na verdade, quando geografias inteiras querem ser declaradas património mundial, querem ser declaradas Museu. Progressivamente, «as potências espirituais que definiam a vida dos homens – a arte, a religião, a filosofia, a ideia de natureza, a política, até – retiraram-se para o Museu», e isto só significa trocar o valor de uso pelo valor de exposição (conceito usado por Benjamin no seu célebre ensaio, A Obra de Arte na Era da sua Reprodutibilidade Técnica), e este valor torna impossível a habitação. O museu é na religião Capitalista o que era noutras a Igreja ou o Templo, e as hordas que aí afluem já não são peregrinos mas turistas («a primeira indústria do mundo»). «Museu não significa aqui um lugar ou um espaço físico determinado, mas a dimensão separada para a qual se transfere aquilo que, em tempos, era sentido como verdadeiro e decisivo e, agora, já não o é».
Profanar o improfanável «é a missão política da próxima geração».
08 dezembro, 2006
À minha filha Francisca, onde quer que esteja

Esteve comigo. Dei-lhe a mão. Tirei-lhe os piolhos mortos que apanhou na escola. Apenas quando dormia. O cabelo sempre ensopado na almofada. Voltava-se e eu continuava. Como se tivesse um trabalho a cumprir. Depois ia dormir. Acordava-nos com medo do mundo. Chorava desde que nasceu. Sempre teve medo do mundo. Depois despediu-se de nós. Sem mim. Um resto. Uma palavra. Uma loucura persistente. Um navio que caminha ainda agora às avessa. Vivo desde então ao rés do chão.
O problema do plágio e da cópia
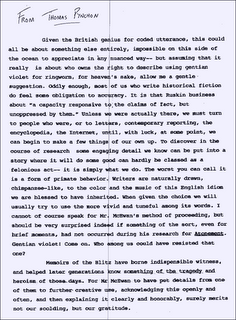
Houve um tempo em que o importante era a obra. Em qualquer actividade interessava ao artesão apresentar obra sua, de preferência distinta das que no mercado estavam marcadas com outros nomes. Emerge depois o tempo da relatividade que se consubstancia na expressão «o importante somos nós». Nunca entendi completamente do que se falava e fazia aqui. A partir desta expressão os autores começaram a olhar para os seus primeiros trabalhos, aqueles que tinham demonstrado maior afinidade com as maiorias, e começaram a reciclá-los, a recompô-los. É o tempo da frustração, da não criatividade, da reciclagem permanente a partir de novos suportes tecnológicos e sensoriais. Os cantores sabem do que falo: de antigas canções agora vestidas com outras roupagens; de novas vozes para as mesmas canções; de novos ritmos e produções para o mesmo poema ou canção. Os tops musicais fazem-se destas antologias: o melhor de… Nunca imaginei que o tempo, voraz no seu ser de substância sem acidentes, pudesse desviar aqueles que sempre se preocuparam por constituir obra para as obras dos outros, mas não para as suas virtudes, sim para os seus pretensos erros. Do mesmo modo de quando adolescentes nos preparávamos para a descoberta de erros ortográficos, de lábios que não coincidiam com os diálogos, de cabeças cortadas que jurávamos ser defeito do realizador ou do fotógrafo, e nunca um opção da criação. Deixei de ir ao cinema com um amigo que em vez de ver o filme sumariava, no fim, o que ele acreditava ser as incongruências da arte. Voltamos a este tempo. Ou nunca de lá saímos. Nunca pude imaginar que um dia, alguém pudesse perder o seu precioso tempo em detectar o que um autor anda a fazer com a sua obra ao copiá-la em livros mais recentes (o que acontece na música); em descobrir plágios de livros desconhecidos ou de livros que, oportunamente, o autor coloca na lista de agradecimentos. Não entendo esta necessidade. E só a posso entender na preguiça e na imperiosa contaminação de um espaço que não desejando já o inédito e autêntico se revê, como qualquer revista de temas insuspeitos, na calúnia e no voyeurismo. Alguns portugueses deram-se agora conta deste filão mas o mesmo sucede em muitos lugares deste Mundo. Veja-se por exemplo o que aconteceu recentemente ao romancista McEwan. Deixo-vos a carta de Thomas Pynchon, saído do covil em sua defesa, publicada num jornal britânico.
06 dezembro, 2006
Novo Livro

Está nas livrarias um novo livro de Rui Nunes: Ouve-se Sempre a Distância numa Voz. A ele voltaremos um dia destes. Deixo-vos uma citação:
cada nome leva em si uns lábios como a sua vida: às vezes decresce e torna-se segredo, uma confissão, outras vezes desdobra-se e enche a vereda, as silvas, as fragas, os arados, os passos; às vezes pára na árvore e a árvore estremece, outras vezes pára no voo e torna-o vertiginoso; às vezes é seta, bala, o vento refulgente, as estátuas de sal, outras vezes debruça-se para mim e abre-se na face que não suspeitei amar.
Ed. Relógio d'Água
2006
04 dezembro, 2006
Anos 80, uma exposição
 (Auto-Retrato de Jimmie Durham)
(Auto-Retrato de Jimmie Durham)Fomos ver a Serralves os «Anos 80», uma exposição. Eles dizem «uma topologia». Não gostei de tudo. É por gosto do comissário que muitos dos artistas aqui expostos (mais de 70) fazem parte dela. Dos que mais gosto, produziram algumas das suas obras mais emblemáticas, e aquelas onde se adivinhava o futuro, na década de 70. Os oitenta, sabemos, pois pertenço a essa geração, representa uma fonte donde jorra um líquido desconhecido. Em todas as artes. Mas mesmo assim é preciso falar nela. Uma topologia é apenas um conceito funcional, produtivo. Começarmos pelos círculos concêntricos das cidades e a partir daí constituirmos um quadro geral cultural do que foi a década de oitenta nada acrescenta à enorme dispersão desses anos e, muito menos, à nossa errância. É um contra senso a ideia de, a partir do que aconteceu nesses 10 anos, podermos pensar uma unidade. Quando o trágico, a ironia e a errância eram as principais qualidades, uma topologia para a substância artística finaliza-a. Alguns artistas que consideramos não estão lá. Mas estão lá muitos cujas obras são uma referência para esses anos instáveis dos fins do séc.XX. Dá-se muito espaço a algumas geografias e pouco a outras. Representa-se demais. Dá-se um errado enquadramento a alguns artistas e um deslocamento de outros. Há fissuras em demasia neste quadro, tornando a ex-posição frágil e inconsistente, numa época em que todos os traçados artísticos se fazem por cima de nós, sem rede, enformados apenas por afinidades electivas.
Vi muitas famílias. É bom. Os gaiatos correm entre as obras, sem nada a perder. Os adultos fotografam até vir um segurança dizer que podem utilizar a máquina fotográfica mas sem flash. Já me habituei a este cenário. Não é único. Visite-se outra exposição nessa Europa e sabem do que falo. Mas se querem tanto recordar (de record), por que não dar aos «espectadores» as coordenadas dos afectos? À entrada apenas duas folhas A4, realmente mal dimensionadas para a exposição; a geografia e os lugares não se entendem (há mesmo confusão de continentes) -parece que tem que ser sempre o artista a organizar!; não se entendem os pisos, o lugar das fotografias e das pequenas obras. Mesmo assim é preciso ver esta exposição. Muito do que ali está exposto, que conhecemos de outros catálogos, apenas será visto em Portugal daqui a muitos anos. É, por isso, uma exposição imprescindível. Vão com tempo, cedo e nunca ao fim-de-semana.
Vi muitas famílias. É bom. Os gaiatos correm entre as obras, sem nada a perder. Os adultos fotografam até vir um segurança dizer que podem utilizar a máquina fotográfica mas sem flash. Já me habituei a este cenário. Não é único. Visite-se outra exposição nessa Europa e sabem do que falo. Mas se querem tanto recordar (de record), por que não dar aos «espectadores» as coordenadas dos afectos? À entrada apenas duas folhas A4, realmente mal dimensionadas para a exposição; a geografia e os lugares não se entendem (há mesmo confusão de continentes) -parece que tem que ser sempre o artista a organizar!; não se entendem os pisos, o lugar das fotografias e das pequenas obras. Mesmo assim é preciso ver esta exposição. Muito do que ali está exposto, que conhecemos de outros catálogos, apenas será visto em Portugal daqui a muitos anos. É, por isso, uma exposição imprescindível. Vão com tempo, cedo e nunca ao fim-de-semana.
26 novembro, 2006
UM ADEUS PORTUGUÊS

«as minhas urinas passaram já. Fizeram, bem o sei, um sulco verde, fundo, a N dimensões, depois passou a azul, depois, por mais que passe, deixei de o ver. E ultimamente já não passo, para quê?
(da Nota de Mário Cesariny no Poema-Mito «Imagem Devolvida» de Mário-Henrique Leiria, Março de 1974).
Adeus Mário,
Cesariny
e de Vasconcelos
Não Existe Céu

Fomos ver ao Nimas o último filme do Pedro Costa: Juventude em Marcha. Gostei. Nas primeiras imagens alguém lança pela janela os móveis da sala. Uma casa suspensa na noite, com um pequeno quadrado-janela que vomita mobília. Parece uma casa sozinha depois de um dilúvio que atingiu a terra. Não há vozes para a afronta. Depois alguém fala, nas escadas, de faca na mão. Não explica o acto, mas lembra-se e conta-nos a sua infância em Cabo Verde. Tudo são sombras. Depreendemos que tem que haver um céu, e nele um sol para estas sombras, mas não se vê. O céu apenas aparece duas vezes no filme: uma vez por detrás de uma árvore no jardim da Gulbenkian, e outra vez, lá mais para o fim, no «pequeno mar» do Campo Grande. O resto é um abafo rente ao chão; às ruelas do bairro das Fontainhas. Onde deveria haver mundo e nele a luz do dia, há um longo clarão que tudo abafa, que cega, como a luz que vem das janelas. Vive-se no interior das casas sem se saber se existe mundo. E quando existe, no novo bairro onde foram alojados os moradores das Fontainhas, há o desnorte, a perdição. Chama-se pelo nome. E este nome sobe as empenas brancas dos edifícios e queda-se nas janelas fechadas e no alto, rente ao céu que não se vê. Somos todos muito pobres. Pobres até ao osso, até à identidade de sermos pobres. E tudo isso dói. Dói tanto que qualquer dia os cinéfilos do mundo fazem excursões aos bairros suburbanos para se encontrarem com o Lento, a Vanda ou o Ventura. É assim todos os dias nas favelas do Rio. Mesmo assim gostei. Estamos sempre a dar de caras com uma imagem que nos lembra outro cinema, uma fotografia, seja de Ford ou Man Ray. Mas, creio, Pedro Costa chegou ao limite. Não há linguagem possível para outro filme sobre o mesmo traçado emocional e urbano destas personagens. Se outro quiser fazer, só uma câmara instalada na loucura pode filmar o que falta a este cinema.
15 novembro, 2006
OQUEEUGOSTODAHELENAALMEIDA
Os pés afundam-se,
neles a idade por aí acima
presa por um fio
que por vezes tange
noutras é silêncio
demorado no corpo
como querendo lembrar
as primeiras vozes
e depois os primeiros traços
que são olhos
– também eles únicos –
um cabelo perdido do amor.
A boca faz correr
um rastro de pólvora
pelo chão
que a minha filha diz
que é tinta
e eu digo-lhe
– para nisto acreditar –
que passe primeiro a mão
pelos olhos
e fale depois;
e nela a idade a crescer
sem saber de onde vem
o tempo
e o negro que o pai traduz.
O corpo desmancha-se facilmente, disse.
É uma aventura, acrescento.
(Helena Almeida- Dentro de mim)
neles a idade por aí acima
presa por um fio
que por vezes tange
noutras é silêncio
demorado no corpo
como querendo lembrar
as primeiras vozes
e depois os primeiros traços
que são olhos
– também eles únicos –
um cabelo perdido do amor.
A boca faz correr
um rastro de pólvora
pelo chão
que a minha filha diz
que é tinta
e eu digo-lhe
– para nisto acreditar –
que passe primeiro a mão
pelos olhos
e fale depois;
e nela a idade a crescer
sem saber de onde vem
o tempo
e o negro que o pai traduz.
O corpo desmancha-se facilmente, disse.
É uma aventura, acrescento.

(Helena Almeida- Dentro de mim)
AUSCHWITZ

Por que temos que voltar a Auschwitz? Por que não é apenas uma recordação? Auschwitz não pertence ao tempo. Constitui-nos como os nervos, os músculos, os ossos, o sangue e a carne. Auschwitz está tão perto da nossa intimidade que nos mete medo; que afasta qualquer sinal de reconciliação com a identidade que poderia ser a do humano.
Não são os procedimentos que afastam; não são os soldados e os oficiais a circular à noite pelas casernas. Talvez seja a magreza sem dor; o riso de uma criança a correr na calçada entre os crematórios. Não é o drama e a tragédia. Talvez seja a cor, sempre negra e sombria, que retoca diariamente a imagem de um guarda alemão regressando a casa com dois pares de sapatos e dois casacos ainda novos: os judeus vestiam-se como se, em vez de num comboio, entrassem numa sinagoga. Talvez esta dor seja intemporal.
(fotografia de Paulo Nozolino - Assassinados- Auschwitz (1994)
04 novembro, 2006
A merda acontece

Em que outro país do mundo Rui Nunes e Mafalda Ivo Cruz seriam considerados romancistas?
Li primeiro no Público, li depois nalguns blogs coisas parecidas. Ora repetindo a prosa, ora comediando. Sabemos que o país está todo em stand-up comedy; que o interessante é escrever frases que contaminem. Sei, por outro lado, que fugimos de nós; que a maioria dos críticos literários depois de afirmarem coisas do género, em qualquer país civilizado, estariam à procura doutra profissão. Recuemos ao fim da primeira guerra mundial: imaginem um crítico do New York a escrever que, depois da publicação de Paterson, só num país como a América, William Carlos Williams seria considerado poeta; ou que o velho Ulisses, de James Joyce, nunca poderia ser considerado litaratura (desconfio que eles acreditam nisso mas não o dizem); e na mesma altura, mais ano menos ano, O Som e A Fúria e Na Minha Morte, de Faulkner, poderiam ser considerados tudo, menos romances. Está bem, ganhou o prémio Nobel, e depois? Depois vêm mais dois livros de Virginia Wolf, mais dois de Hermann Broch, a Náusea de Sartre; o Beckett quase todo (e mais um milhar de livros e autores). Eu quero acabar na segunda guerra mundial porque depois torna-se impossível dizer o que é romance, o que é poema, o que é pintura, etc. Ninguém está interessado em saber o que é o romance; ninguém está interessado numa sistemática das artes contemporâneas. Assim sendo, como é possível que alguém possa dizer que só num país como Portugal, Mafalda Ivo Cruz e Rui Nunes podem ser considerados romancistas. Não sei se eles algum dia afirmaram, nalguma entrevista, que eram romancistas. A definição e o género têm alguma importância? Perante a afronta devemos ficar calados, mas só até ao momento em que nos apercebemos que muitos dos que lemos e aconselham ficaram parados no século XIX. E assim sendo, neles, a merda acontece. É pena que seja apenas em palavras. Por que não na boca?
(instalação de Maurizio Cattelan)
06 outubro, 2006
A FUNDAÇÃO, DE PEDRO CABRITA REIS

Fui ver a instalação «Fundação» de Pedro Cabrita Reis que ocupa a grande sala de exposições do Centro de Arte Moderna da Gulbenkian. Uma plataforma térrea ocupa o centro da sala. Mais à frente, um conjunto de velhas estantes, cheias de pó, onde a minha filha digitou o seu nome que, presumo, também irá ser coberto pela poeira fina dos dias, a poeira do tempo e dos anjos. Aquilo que a minha filha fez é da vontade de todos os que visitam esta instalação: caminhar na plataforma iluminada; trepar à parede laranja; destruir mais um pedaço do muro em tijolo, concebido como as sobras de uma obra que nunca avançou, ou que se ergueu noutro lado, que ficou por ali como o rastro de um urbanismo em constante deterioração. Apetece pôr livros nas estantes vazias; fichas de leitura nos velhos arquivadores metálicos; fundir lâmpadas que parecem ser – numa visão ciclópica - o click da obra de arte, legitimada pelo artista e pela instituição («o que eu faço? – Arte. «O que expomos?». – Arte).
Apenas um senão: não é permitido interagir com nenhuma parte da instalação. Há seguranças que nos reprimem com o olhar esse desejo (também não perguntei). Esta instalação de Cabrita Reis, que não me interessa interrogar esteticamente, deveria ser um caos maior no seu fim (um caos devir, diariamente), pois a sua morte foi antecipada, é contemporânea do seu nascimento (em certos aspectos o mesmo se passa com todos os seres) e, por esta razão, não basta que seja o tempo a morrer nela, nem o espaço a conformá-la (enformá-la). A estas condições devemos juntar a turba humana em visita, o corpo de quem vê a morte à sua frente e nada pode fazer para contrariar o destino inexorável da obra: a lixeira de detritos sólidos urbanos.
Enquanto antecipávamos esse destino, que lhe está marcado na «face», éramos felizes e deus. Talvez em nós o fim desse quadro geral cultural se cumprisse. Assim como está não, pois basta descer alguns degraus (creio que alguns críticos se esqueceram dos espaços laterais desnivelados ao afirmarem que o museu está vazio) para nos depararmos com obras de arte que fazem parte da colecção permanente do Centro e, quando a visitei, também pude ver, mais acima, a excelente mostra do fotógrafo britânico Craigie Horsfield. Todos ficamos perdidos. Deveriam ter retirado todas as obras que nos levam ao esquecimento e deixar-nos entrar nesse reino da ilusão de Cabrita Reis. Assim não sendo um espectro «kafkiano» impera. E todo o espectro legitima a destruição de qualquer coisa. Assim ficamos muito longe, com sede, quando o oásis parecia tão perto. Contra a metáfora da ordenação, a que sucumbe toda a geografia e acção humanas, apenas a nossa destruição tinha sentido.
Chegado aqui não estou sozinho. Ao inscrever o seu nome no pó das estantes, também a minha filha sentiu isso. Nesta instalação nós deveríamos ser os portadores de um vírus, contaminando todo o material.
27 setembro, 2006
A DIFAMAÇÃO
Pela primeira neste lugar vou escrever sobre o que ouvi. Sei, à partida, que isto vai dar para outros lados. Fui à Culturgest ouvir Steve Reich, Keiki Abe, Filipe Esteves, José Júlio Lopes, Zhou Long e Akira Nishimura. Este concerto, com mais dois, está integrado no festival «Expresso do Oriente» que a OrchestrUtopica produz e desenvolve com o apoio daquela instituição cultural.
No espaço reservado ao concerto, pouca gente, na maioria jovens que, pelas conversas do intervalo, pareciam saídos dos conservatórios e escolas superiores de música. Não é todos os dias que se ouve, no mesmo dia, música de origem tão diversa, que os instrumentos uniam. Não é todos os dias que o público de Lisboa pode assistir à apresentação de um novo grupo de percussão, o Lisbon DRUMMATIC, constituído por músicos português de alta qualidade (no meu entender de melómano fanhoso). E de repente, naquele pequeno grupo, dou comigo a pensar o que será feito daqueles que todos os dias escrevem que o estado não deve apoiar artes que só alguns entendem, que só alguns vêem, que só alguns ouvem. O que eles querem dizer é simples: o que o estado deve apoiar, com os nossos impostos, são peças, obras, livros ou espectáculos que nos sirvam. Como se a arte tivesse que ir a casa deles, como quem vai ao alfaiate, para tirar as medidas. E depois sim, a aprovação ou a reprovação. São os eleitos. Mas esta palavra está aqui desubstanciada. Os eleitos são os que não entendem a diversidade e se a entendem em teoria, dela não se aproximam e, se possível, reprovam-na ao longe. Alguns destes eleitos chegam ao ponto de escrever quais os romancistas ou artistas que não deveriam pertencer ao género.
Tudo o que se faz a partir do zero é feito com sangue, suor e lágrimas, e algum prazer. Estes eleitos apenas entendem a palavra suor, e mal. Na maioria das vezes é o suor dos outros que está em causa. Por atalho: desta categoria de eleitos faz parte a quase maioria dos organizadores do «Compromisso Portugal». Tal como os de cima em relação às artes, estes resumem-se assim: Estado, dá-nos mais coisas já feitas que nós encarregamo-nos de as fazer render.
O que falta a este resumo é sangue e lágrimas, e o prazer que começa no zero. Façam qualquer coisa antes da unidade para merecerem mais.
Voltei depois aos músicos, que a música nunca deixei. E ouvi que aquela energia tinha sentido, a força do que nasce à nossa frente. Quando o concerto acabou, apeteceu-me glosar António Nobre: que é feito do público e críticos do meu país que não vêm ouvir os seus artistas?!
No espaço reservado ao concerto, pouca gente, na maioria jovens que, pelas conversas do intervalo, pareciam saídos dos conservatórios e escolas superiores de música. Não é todos os dias que se ouve, no mesmo dia, música de origem tão diversa, que os instrumentos uniam. Não é todos os dias que o público de Lisboa pode assistir à apresentação de um novo grupo de percussão, o Lisbon DRUMMATIC, constituído por músicos português de alta qualidade (no meu entender de melómano fanhoso). E de repente, naquele pequeno grupo, dou comigo a pensar o que será feito daqueles que todos os dias escrevem que o estado não deve apoiar artes que só alguns entendem, que só alguns vêem, que só alguns ouvem. O que eles querem dizer é simples: o que o estado deve apoiar, com os nossos impostos, são peças, obras, livros ou espectáculos que nos sirvam. Como se a arte tivesse que ir a casa deles, como quem vai ao alfaiate, para tirar as medidas. E depois sim, a aprovação ou a reprovação. São os eleitos. Mas esta palavra está aqui desubstanciada. Os eleitos são os que não entendem a diversidade e se a entendem em teoria, dela não se aproximam e, se possível, reprovam-na ao longe. Alguns destes eleitos chegam ao ponto de escrever quais os romancistas ou artistas que não deveriam pertencer ao género.
Tudo o que se faz a partir do zero é feito com sangue, suor e lágrimas, e algum prazer. Estes eleitos apenas entendem a palavra suor, e mal. Na maioria das vezes é o suor dos outros que está em causa. Por atalho: desta categoria de eleitos faz parte a quase maioria dos organizadores do «Compromisso Portugal». Tal como os de cima em relação às artes, estes resumem-se assim: Estado, dá-nos mais coisas já feitas que nós encarregamo-nos de as fazer render.
O que falta a este resumo é sangue e lágrimas, e o prazer que começa no zero. Façam qualquer coisa antes da unidade para merecerem mais.
Voltei depois aos músicos, que a música nunca deixei. E ouvi que aquela energia tinha sentido, a força do que nasce à nossa frente. Quando o concerto acabou, apeteceu-me glosar António Nobre: que é feito do público e críticos do meu país que não vêm ouvir os seus artistas?!
25 setembro, 2006
FÉRIAS
19 setembro, 2006
Em Conversa com Thomas Bernhard, de Kurt Hofmann
Saiu novo livro sobre Thomas Bernhard. Um longo monólogo sobre temas recorrentes nos seus livros, a Áustria, o povo austríaco, Salzburgo, etc, e uma entrevista com Kurt Hofmann (o autor deste livro, que preferiu, na primeira parte do livro, retirar-se do diálogo). Tudo, como ele gosta de dizer, «tratado abaixo de cão». Este livro nada de novo vem acrescentar à obra do autor austríaco já traduzida para português: os seus melhores romances e peças já têm edição portuguesa. Creio faltar ainda um livro que nos levaria a entender melhor a concepção narrativa de Bernhard: a sua autobiografia. Dividida em cinco pequenos livros (Die Ursache, Der Keller, Der Atem, Die Kalte, Ein Kind), podiam ser publicados num único volume como fez a Gallimard na sua colecção Biblos.
Edição: Assírio & Alvim(2006)
Edição: Assírio & Alvim(2006)
01 maio, 2006
Sobre Uma Tradução
(Escrevo isto com desgosto)
A editora Casa das Letras acaba de lançar no mercado português uma obra de ficção de Peter Handke (autor austríaco). O título do romance In einer dunklen nacht ging ich aus meinem stillen haus, vertido para português em Numa Noite Escura Saí da Minha Casa Silenciosa, é retirado do poema de S. João da Cruz, Noite Escura, traduzido por José Bento (S.João da Cruz , Poesias Completas, Assírio e Alvim, Lisboa, 1990, pg.33). Compare-se o título com a tradução e vão perceber o que encontram lá dentro: Em uma noite escura / com ânsias, em amores inflamada, / oh ditosa ventura!, / saí sem ser notada, / estando minha casa sossegada.
Quis saber do tradutor. Procurei em todo o livro e nada, apenas o nome de uma revisora. Depreendo que esta tradução foi feita por uma máquina. E depois é ver um acumular de erros que faz de Handke um mau escritor, coisa que ele nunca foi. Veja-se, ao acaso:
«no tempo em que decorre esta história, Taxham estava quase esquecida. A maioria dos habitantes da cidade de Salzburgo, que ficava próxima, não poderia dizer onde se situava a localidade.»
«ao contrário de todas as outras localidades da região, estava privada de quaisquer visitas, tanto vindas de perto como de qualquer sítio distante».
«mesmo sendo esse, ou não, o seu feitio»
«Apesar de se situar numa vasta planície e perto de uma grande cidade, tinha algo de acampamento militar, e de facto existiam nas redondezas, próximo da fronteira alemã, três quartéis, um dos quais na sua periferia.»
«O farmacêutico tinha ainda uma filha, que há pouco, desde a conclusão do curso, trabalhava com ele, mas que durante o Verão, juntamente com o namorado, também farmacêutico e, para além disso –uma novidade no clã! -, físico, tinha saído da «ilha deserta, ido para uma outra localidade diferente».
E para acabar:
««Já cai neve!», disse um de nós os dois»
«E agora surgia finalmente o primeiro pássaro, naquela manhã, um corvo gordo…»
Não há uma página que escape. Para os leitores de Peter Handke: esqueçam esta tradução.
Quis saber do tradutor. Procurei em todo o livro e nada, apenas o nome de uma revisora. Depreendo que esta tradução foi feita por uma máquina. E depois é ver um acumular de erros que faz de Handke um mau escritor, coisa que ele nunca foi. Veja-se, ao acaso:
«no tempo em que decorre esta história, Taxham estava quase esquecida. A maioria dos habitantes da cidade de Salzburgo, que ficava próxima, não poderia dizer onde se situava a localidade.»
«ao contrário de todas as outras localidades da região, estava privada de quaisquer visitas, tanto vindas de perto como de qualquer sítio distante».
«mesmo sendo esse, ou não, o seu feitio»
«Apesar de se situar numa vasta planície e perto de uma grande cidade, tinha algo de acampamento militar, e de facto existiam nas redondezas, próximo da fronteira alemã, três quartéis, um dos quais na sua periferia.»
«O farmacêutico tinha ainda uma filha, que há pouco, desde a conclusão do curso, trabalhava com ele, mas que durante o Verão, juntamente com o namorado, também farmacêutico e, para além disso –uma novidade no clã! -, físico, tinha saído da «ilha deserta, ido para uma outra localidade diferente».
E para acabar:
««Já cai neve!», disse um de nós os dois»
«E agora surgia finalmente o primeiro pássaro, naquela manhã, um corvo gordo…»
Não há uma página que escape. Para os leitores de Peter Handke: esqueçam esta tradução.
25 abril, 2006
NOVA VIAGEM OU UM PERCURSO POR BROCH

Na realidade, nada e ninguém é mais mortal do que o povo das metrópoles*, H. Broch
Broch sabia que era na proximidade da morte que toda a arte se cumpria, porque é nessa proximidade que a fronteira do íntimo, ou daquilo que é íntimo, se expande até atingir o exterior para onde parece estar voltada a obra. Só assim, e numa polaridade perfeita, mesmo ao nível da língua, o acordo das partes se faz. Porque nenhum símbolo se deve tornar o seu fim assim como nenhuma beleza «se torna finalidade em si própria»[1]. Porque quando isso acontece algo se banaliza depois de um ataque às estruturas do símbolo e da língua. Nesta acção, que é uma inversão de valores, e o não reconhecimento da natureza da arte e da própria realidade, o vazio impera, vazio que pode ser o assumir como verdadeiros os conteúdos da realidade, porque a verdadeira criação está em permanente diálogo com a «ressurreição», que é o outra face do símbolo da criação: «só na permanente ressurreição se completa a criação e só enquanto existir a criação, e nem um instante mais, tem lugar a ressurreição»[2]. Ora, só a criatura de língua que emerge do espaço das outras criaturas, tem o poder de invocar o seu renascimento, instante a instante, através da sua língua em diálogo com a língua nova que dá sentido à totalidade a existir, mesmo que esta totalidade esteja coberta, em parte, pelo insustentável e pela invisibilidade; o reverso derradeiro, que é uma pena da criatura em criação, é a imolação do seu todo nessa invisibilidade: de quem constituiu o seu túmulo mas não arranjou forças para o destruir a partir da planta da construção. Muito afastado desta tarefa humana, distância de fuga e de medo a essa imolação e solidão extrema, há o espaço, de asfixia da criação, onde não é possível uma recriação, nem mesmo o erro, que é sempre o princípio de haver mais alguma coisa por descobrir. Nesta acção que é um caminho, reconhecidamente contemporâneo, sobretudo das grandes urbes, onde tudo é mais mortal, há quase sempre uma «preocupação fútil com a beleza» que encontra, porventura, caminhos de chegar mais facilmente ao coração dos mortais. É, no entanto, um caminho simulado, ilusório, para fugir de uma solidão que avança e atinge de um modo terrível a vida mas não é o caminho que leva à comunidade dos vivos que está em permanente constituição e agitação, na criação de um verdadeiro símbolo que pode ser o da própria existência. Mesmo Virgílio pensando-se através de Broch parece ter ali aportado, e por esta constatação, corre a Eneida o perigo de ser queimada, porque ela não representa mais do que o rosto da beleza que não pertence à natureza da poesia, não é qualidade sua mas um alvo fora de si: Virgílio tinha-se descoberto num equívoco -das formas éticas e estéticas- que pode ser levado mais longe, caindo na descrença da arte e considerando apenas bem-aventurados aqueles cujo conhecimento e cumprimento do dever, que é a necessidade de entreajuda, fortalecem a comunidade. Todos os escritos deveriam ser queimados, mesmo a Eneida para que a contradição cessasse, para que o caminho de regresso à condição terrena se constituísse e fosse assim possível e de novo a vida. Não uma vida isolada, uma esfera, mas em comunhão, como se esta vida ainda estivesse presa a um conhecimento antigo e seguisse, sem sobressaltos, a simultaneidade do tempo e do espaço. Como se por esta acção ainda fosse possível entender a ideia de salvação em oposição a uma culpa que não é nossa, que é uma ferida ampla aberta na ontologia natural, causadora da desordem instalada na condição humana, ganhando visibilidade; causadora de efeitos, na contínua relação existencial e esclarecimento da realidade.
O escritor austríaco espia aqui, através de outro, a suas dúvidas, a sua culpa e a do destino, de não poder fugir a este abandono que é o da literatura: «écrivain, malgré lui», diz Hanna Arendt no prefácio da recolha de alguns dos seus ensaios mais conhecidos.
Falta-nos saber se a intenção do símbolo «flutuante», que pode ser pensado também como a língua nova, «uma língua para lá da língua, uma condensação de sentido», ou elementos dessa língua, e que apenas é realizado nas relações, não estará sempre condenada ao malogro? Mesmo que isto se verifique é preciso distingui-lo do erro, pois se este é o facto natural e derradeiro para todo o conhecimento individual, na arte é imprescindível, pois a errância, um movimento da literatura, vive de uma língua em constante polaridade, entre as placas que constituem a realidade que postulam o aparecimento do erro, cada vez mais refinado, até ao limite do imponderável. Mesmo no interior, no limiar donde se pode avistar a criação e depois o seu renascimento, também aqui existe luta, que ao nível da linguagem é, na maioria das vezes, a luta aberta dos elementos do paradoxo. Nesse limiar, o que constantemente é sentido é uma oposição entre a criação, que é um sacrifício, e o outro sacrifício que é um novo nascimento. Só aquele que não sabe o que «é dar à luz» não encontra o lugar da guerra e o seu conteúdo, mas o que sabe tenta sempre evitar a repetição da criação, que o mesmo é dizer, do renascimento, evita renomear, porque esta acção envolve sempre, como vimos, um novo sacrifício, e ninguém gosta de pedir isso aos seus. Porque a «mãe» sabe que dar à vida é dar à morte, assim como dar novamente um nome é fazer assentar aquilo que é seu nessa longa lista que escuta e mata quando chegar a hora. Mas a condição literária não se deve furtar, ela sabe que para se cumprir tem que nomear, mesmo aquilo que jazia sobre os valores e que ficou visível com o movimento dos quadros valorativos ou mesmo a sua desvinculação do reconhecimento do mundo: o horror, o medo, a morte, a fragilidade, a solidão, o desassossego, etc. A condição literária, -a poética, afirma, Broch - não pode prescindir de nomear. A sua missão essencial «é a de exaltar o nome das coisas»[3] mesmo que tudo se destine a fazer parte do fluxo, do transitório das coisas, i.e., de uma nova violência, mortal, cometida sobre o seu logos porque nenhuma palavra, mesmo duplicando em si a criação, consegue permanecer em unidade, porque criar é mais do que dar forma, é distinguir. «Porque tudo isto, que se define como poesia e transforma em poesia, acontece exclusivamente na duplicação do mundo, o mundo da língua e o mundo das coisas permanecem separados, dupla a pátria das palavras, dupla a pátria dos homens, duplo o abismo da existência, mas dupla também a castidade do ser»[4]. Mas sabendo desta impossível função da palavra humana, reside ainda nela, como locução e pronunciamento do mundo, uma representação espúria da realidade que não é apenas exaltamento do nome das coisas, mas um desocultar firme que vai de nós para a existência, mesmo que para isso se tenha que exercer uma pressão nas palavras a fim de as destruir, destruindo a língua e os nomes até que haja um regresso da graça[5], chamando o indiferenciável para o reino do nomeável para, por fim, ser também destruído todo o reino: este é o limite. Este é o último grau que inspira um derradeiro silêncio daquele que contempla, porque este velar exige uma atenção extrema que qualquer sentimento pode destruir. Também o Virgílio de Broch entendeu, por momentos, que a destruição da obra da sua vida era necessária à continuidade da acção e da sua supremacia, só por este acto a unidade se converteria, não em símbolo, em que se converte a obra e o mundo, mas na própria unidade que contém todas as antinomias como se fosse um ventre de gémeos.
«Num terrível equilíbrio está suspenso o riso»[6], o riso que está na origem e no fim da concórdia, aquela que aprova a beleza. E sob este riso correm as palavras, tentando reunir-se ao enorme caudal de sentido, palavras ainda não nascidas e porventura já mortas: é disto que se alimenta o riso. Para lá dele a rigidez do mundo e a impossibilidade de alguma lei que contenha a sentença capaz de fragmentar a unidade ou unir os fragmentos dispersos. Desdobrado perante nós está apenas o esquecimento que leva a esse riso e à tarefa de constituir uma forma, harmónica e digna, mesmo que esta harmonia seja já um símbolo estranho, com sentido apenas noutra língua que não a nossa.
*publicado na revista Vértice, Julho-Agosto de 2006
[1] A Morte de Virgílio, Vol.I, Trad. de Maria Adélia Silva Melo, Relógio d´Água, Lisboa, 1987, pg.155.
[2] Op.cit.pag.192.
[3] Op.cit. pag.206.
[4] Op.cit.pág.206-207.
[5] A escrita contemporânea é muito afectada por esta destruição das palavras como um regresso à graça sem lingua, que não tem destino. Podemos falar, por exemplo, de Joyce e, sobretudo, de Samuel Beckett: «tout ce qu’on peut faire, c’est essayer de chanter, mais on chante avec des paroles qui trahissent». E por esta razão «como não podemos de nenhum modo eliminar a linguagem, devemos pelo menos não deixar nada por fazer que possa contribuir para a fazer abalar», carta de Beckett a Axel Kaun, a 9 de Julho de 1937, citada por José A. Bragança de Miranda, em Política e Modernidade, Edições Colibri, Lisboa, 1997, pag.65.
[6] Op.cit. Vol.II, pag.27.
Broch sabia que era na proximidade da morte que toda a arte se cumpria, porque é nessa proximidade que a fronteira do íntimo, ou daquilo que é íntimo, se expande até atingir o exterior para onde parece estar voltada a obra. Só assim, e numa polaridade perfeita, mesmo ao nível da língua, o acordo das partes se faz. Porque nenhum símbolo se deve tornar o seu fim assim como nenhuma beleza «se torna finalidade em si própria»[1]. Porque quando isso acontece algo se banaliza depois de um ataque às estruturas do símbolo e da língua. Nesta acção, que é uma inversão de valores, e o não reconhecimento da natureza da arte e da própria realidade, o vazio impera, vazio que pode ser o assumir como verdadeiros os conteúdos da realidade, porque a verdadeira criação está em permanente diálogo com a «ressurreição», que é o outra face do símbolo da criação: «só na permanente ressurreição se completa a criação e só enquanto existir a criação, e nem um instante mais, tem lugar a ressurreição»[2]. Ora, só a criatura de língua que emerge do espaço das outras criaturas, tem o poder de invocar o seu renascimento, instante a instante, através da sua língua em diálogo com a língua nova que dá sentido à totalidade a existir, mesmo que esta totalidade esteja coberta, em parte, pelo insustentável e pela invisibilidade; o reverso derradeiro, que é uma pena da criatura em criação, é a imolação do seu todo nessa invisibilidade: de quem constituiu o seu túmulo mas não arranjou forças para o destruir a partir da planta da construção. Muito afastado desta tarefa humana, distância de fuga e de medo a essa imolação e solidão extrema, há o espaço, de asfixia da criação, onde não é possível uma recriação, nem mesmo o erro, que é sempre o princípio de haver mais alguma coisa por descobrir. Nesta acção que é um caminho, reconhecidamente contemporâneo, sobretudo das grandes urbes, onde tudo é mais mortal, há quase sempre uma «preocupação fútil com a beleza» que encontra, porventura, caminhos de chegar mais facilmente ao coração dos mortais. É, no entanto, um caminho simulado, ilusório, para fugir de uma solidão que avança e atinge de um modo terrível a vida mas não é o caminho que leva à comunidade dos vivos que está em permanente constituição e agitação, na criação de um verdadeiro símbolo que pode ser o da própria existência. Mesmo Virgílio pensando-se através de Broch parece ter ali aportado, e por esta constatação, corre a Eneida o perigo de ser queimada, porque ela não representa mais do que o rosto da beleza que não pertence à natureza da poesia, não é qualidade sua mas um alvo fora de si: Virgílio tinha-se descoberto num equívoco -das formas éticas e estéticas- que pode ser levado mais longe, caindo na descrença da arte e considerando apenas bem-aventurados aqueles cujo conhecimento e cumprimento do dever, que é a necessidade de entreajuda, fortalecem a comunidade. Todos os escritos deveriam ser queimados, mesmo a Eneida para que a contradição cessasse, para que o caminho de regresso à condição terrena se constituísse e fosse assim possível e de novo a vida. Não uma vida isolada, uma esfera, mas em comunhão, como se esta vida ainda estivesse presa a um conhecimento antigo e seguisse, sem sobressaltos, a simultaneidade do tempo e do espaço. Como se por esta acção ainda fosse possível entender a ideia de salvação em oposição a uma culpa que não é nossa, que é uma ferida ampla aberta na ontologia natural, causadora da desordem instalada na condição humana, ganhando visibilidade; causadora de efeitos, na contínua relação existencial e esclarecimento da realidade.
O escritor austríaco espia aqui, através de outro, a suas dúvidas, a sua culpa e a do destino, de não poder fugir a este abandono que é o da literatura: «écrivain, malgré lui», diz Hanna Arendt no prefácio da recolha de alguns dos seus ensaios mais conhecidos.
Falta-nos saber se a intenção do símbolo «flutuante», que pode ser pensado também como a língua nova, «uma língua para lá da língua, uma condensação de sentido», ou elementos dessa língua, e que apenas é realizado nas relações, não estará sempre condenada ao malogro? Mesmo que isto se verifique é preciso distingui-lo do erro, pois se este é o facto natural e derradeiro para todo o conhecimento individual, na arte é imprescindível, pois a errância, um movimento da literatura, vive de uma língua em constante polaridade, entre as placas que constituem a realidade que postulam o aparecimento do erro, cada vez mais refinado, até ao limite do imponderável. Mesmo no interior, no limiar donde se pode avistar a criação e depois o seu renascimento, também aqui existe luta, que ao nível da linguagem é, na maioria das vezes, a luta aberta dos elementos do paradoxo. Nesse limiar, o que constantemente é sentido é uma oposição entre a criação, que é um sacrifício, e o outro sacrifício que é um novo nascimento. Só aquele que não sabe o que «é dar à luz» não encontra o lugar da guerra e o seu conteúdo, mas o que sabe tenta sempre evitar a repetição da criação, que o mesmo é dizer, do renascimento, evita renomear, porque esta acção envolve sempre, como vimos, um novo sacrifício, e ninguém gosta de pedir isso aos seus. Porque a «mãe» sabe que dar à vida é dar à morte, assim como dar novamente um nome é fazer assentar aquilo que é seu nessa longa lista que escuta e mata quando chegar a hora. Mas a condição literária não se deve furtar, ela sabe que para se cumprir tem que nomear, mesmo aquilo que jazia sobre os valores e que ficou visível com o movimento dos quadros valorativos ou mesmo a sua desvinculação do reconhecimento do mundo: o horror, o medo, a morte, a fragilidade, a solidão, o desassossego, etc. A condição literária, -a poética, afirma, Broch - não pode prescindir de nomear. A sua missão essencial «é a de exaltar o nome das coisas»[3] mesmo que tudo se destine a fazer parte do fluxo, do transitório das coisas, i.e., de uma nova violência, mortal, cometida sobre o seu logos porque nenhuma palavra, mesmo duplicando em si a criação, consegue permanecer em unidade, porque criar é mais do que dar forma, é distinguir. «Porque tudo isto, que se define como poesia e transforma em poesia, acontece exclusivamente na duplicação do mundo, o mundo da língua e o mundo das coisas permanecem separados, dupla a pátria das palavras, dupla a pátria dos homens, duplo o abismo da existência, mas dupla também a castidade do ser»[4]. Mas sabendo desta impossível função da palavra humana, reside ainda nela, como locução e pronunciamento do mundo, uma representação espúria da realidade que não é apenas exaltamento do nome das coisas, mas um desocultar firme que vai de nós para a existência, mesmo que para isso se tenha que exercer uma pressão nas palavras a fim de as destruir, destruindo a língua e os nomes até que haja um regresso da graça[5], chamando o indiferenciável para o reino do nomeável para, por fim, ser também destruído todo o reino: este é o limite. Este é o último grau que inspira um derradeiro silêncio daquele que contempla, porque este velar exige uma atenção extrema que qualquer sentimento pode destruir. Também o Virgílio de Broch entendeu, por momentos, que a destruição da obra da sua vida era necessária à continuidade da acção e da sua supremacia, só por este acto a unidade se converteria, não em símbolo, em que se converte a obra e o mundo, mas na própria unidade que contém todas as antinomias como se fosse um ventre de gémeos.
«Num terrível equilíbrio está suspenso o riso»[6], o riso que está na origem e no fim da concórdia, aquela que aprova a beleza. E sob este riso correm as palavras, tentando reunir-se ao enorme caudal de sentido, palavras ainda não nascidas e porventura já mortas: é disto que se alimenta o riso. Para lá dele a rigidez do mundo e a impossibilidade de alguma lei que contenha a sentença capaz de fragmentar a unidade ou unir os fragmentos dispersos. Desdobrado perante nós está apenas o esquecimento que leva a esse riso e à tarefa de constituir uma forma, harmónica e digna, mesmo que esta harmonia seja já um símbolo estranho, com sentido apenas noutra língua que não a nossa.
*publicado na revista Vértice, Julho-Agosto de 2006
[1] A Morte de Virgílio, Vol.I, Trad. de Maria Adélia Silva Melo, Relógio d´Água, Lisboa, 1987, pg.155.
[2] Op.cit.pag.192.
[3] Op.cit. pag.206.
[4] Op.cit.pág.206-207.
[5] A escrita contemporânea é muito afectada por esta destruição das palavras como um regresso à graça sem lingua, que não tem destino. Podemos falar, por exemplo, de Joyce e, sobretudo, de Samuel Beckett: «tout ce qu’on peut faire, c’est essayer de chanter, mais on chante avec des paroles qui trahissent». E por esta razão «como não podemos de nenhum modo eliminar a linguagem, devemos pelo menos não deixar nada por fazer que possa contribuir para a fazer abalar», carta de Beckett a Axel Kaun, a 9 de Julho de 1937, citada por José A. Bragança de Miranda, em Política e Modernidade, Edições Colibri, Lisboa, 1997, pag.65.
[6] Op.cit. Vol.II, pag.27.
24 abril, 2006
O Simples e o Obscuro – ou duas formas

A experiência poética, no contemporâneo, faz-se sempre em dois registos: o simples e o obscuro. Utilizo aqui duas formulações qualitativas que se podem encontrar em qualquer crítica de um livro de poemas. Para alguns leitores a poesia tem que ser clara, para outros a clareza não é qualidade da poesia e ela tem que ser sempre obscura. Não pertence à semântica do obscuro, aqui como em muita literatura do séc.XX, o ininteligível ou a iliteracia. Se alguém diz que sim, que um determinado poema o preenche completamente, o que quer dizer com isso? Que uma mesma experiência passou, na unidade sincrética de significação, para o poema. Claro que obriga o leitor a ter vivido ou experimentado aquilo que ali está escrito. Mas se a poesia tem algo de novo que tem que ser dito, pode ela ser cristalina, simples, ser essa unidade de significação de que falava Herberto Hélder para descrever a noção de estilo (no texto «Estilo», no seu livro Os Passos em Volta)? Creio que não. O que é novo não pode ser simples, ou a transferência da violência e confusão diária, para uma unidade mental de significação. O novo em poesia, como em qualquer outro ofício humano, é sempre um lugar de deambulação sobre a falha: All of old. Nothing else ever. Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better (Samuel Beckett, Wostward ho- Pioravante marche). E falhar cada vez melhor, a um passo do abismo que é a dor da experiência, é falhar o mais próximo possível do objecto e aqui poucos se aventuram, leitores e autores. Estar próximo do erro, ou aproximar-se tanto do objecto (que pode ser uma experiência), é estar a caminho de uma total imersão no objecto ou na experiência não sendo permitido, a partir daí, voltar atrás: o que escreve e o que lê nesse lugar tornam-se no mesmo mundo. A poesia obscura é isso: estar próximo da deflagração mas consciente que a melhor falha é aquela que não pode engolir mais espaço para o objecto, nem recuar. A primeira leva a uma queda na prosódia (e, nalguns casos, à loucura, através da perda da linguagem em que antes desta acção se constituía o mundo) e a segunda a um equívoco literário que abunda nos nossos dias. Nesta aproximação a uma melhor descrição e visão do que queremos dizer, a linguagem tem que ser sempre nova, pois nunca tentada, deixando em pânico o leitor perante a evidência da novidade e da inovação. Os avanços do discurso poético não se podem fazer apenas (como noutros géneros literários) por unidades mentais de significação, estes produzem, correctamente, um outro ponto de vista sobre a imagem da experiência que está obrigatoriamente contida no literário e tem que ser partilhada, comum. O avanço apenas pode ser introduzido na escrita através da falha, que é um tecido sempre novo a rasgar-se, a caminho de uma ferida, por vezes orgânica, que quer dizer-se. Ora aqui reside um problema muito central na poesia do século que findou e se vai arrastar por longos anos: na verdade, daquilo que não se pode falar deveríamos guardar silêncio. Só que o silêncio não é humano, é qualquer coisa anterior ao humano que ele não entende: todo o universo tem que ser sonoro. Não podendo guardar silêncio, que é próprio do que é imóvel (Deus, por exemplo) e não da errância edipiana do homem, é necessário falar, ruidosamente ou não, da aproximação sempre oblíqua ao mundo e à experiência. Só a verdadeira literatura pode fazer esta aproximação. Pois só nela estão contidas, simultaneamente, as qualidades do humano em falha, a queda no centro devorador e a deambulação, em ausência, pelo mundo. Como a literatura e, sobretudo, a poesia entende este processo, só ela sabe quando parar: quando dar conta da falha, o falhar melhor de Beckett, está na aproximação inexorável ao incêndio, que é o objecto com a sua força de atracção, que tudo queima e nele nada de novo se reproduz. Podemos, claro, ficar longe dessa aproximação à melhor falha, a momentos antes da dor, colocando-nos nessa visão de que é possível falar sobre nós e a vida, estando afastados desse fogo. Mas aqui a inovação é rara. O espaço poético é na maioria das vezes estéril, permitindo apenas a nomeação da experiência ou a retenção, numa imagem, dessa experiência que quer ser compartilhada, transformando-se numa co-experiência. Lembro-me para esta situação do sempre novo Platão: é como pegar num espelho e andar com ele por todo o lado ( República, 596d). E o que produzimos com esse espelho? A aparência, de que a experiência pode ser transmitida e que pode ser partilhada. Só que aqui tudo é passageiro, tudo está de passagem, o que não acontece na inovação organizada no tecido da linguagem que rompe com todas as formas linguísticas (e sociais) e que é capaz «de abrir a prisão da história» (Cláudio Magris, Danúbio). Para aquele que não se quer aproximar, que quer ser simples nessa unidade de significação, resta-lhe alimentar-se da experiência da poesia, o que é um pecado contra ela. Uma experiência, um exemplo: oscilar o dedo indicador, para cima e para baixo, rapidamente, aproximando-se lentamente da esquina da mesa. O momento ideal para o poema é aquele, por analogia, que se situa um pouco antes do dedo embater na madeira e doer. É também a melhor falha. Muito antes nunca saberemos o que é a aproximação ao choque e à dor, nunca saberemos o que é falhar melhor, depois é a dor que torna toda a experiência num longo clarão, que cega, que torna ininteligível o mundo e o seu comunicar-se. Sabemos que falhamos sempre, que é necessário falhar, mas então falhemos bem, saibamos não nos precipitarmos na massa negra, nem, por outro lado, deambular pela experiência como se esta fosse uma página de literatura em branco.
08 abril, 2006
O LUGAR DAS COISAS OBSCURAS
Toda a arte se faz da máxima indeterminação à máxima determinação. A passagem é feita pelo espírito criativo, mas esta extrema determinação só é visível na obra. Mesmo a morte que pode ser considerada, aqui, a suprema determinação, só no nome tem sentido para o sujeito. Este fim é a passagem ou reunião que toda a obra faz, como um arco inútil. Mas não é aqui que reside a dinâmica da literatura, pois esta no seu movimento de determinação apenas muda o curso da vida de um modo indelével, como uma memória em busca da sua forma. A arte, toda a arte, tem uma profunda relação com a morte, como se o seu alvo fosse uma inteireza indeterminada, escondendo da morte algo que ao próprio sujeito sobreviva, não no sentido de alcançar a glória eterna, ou da lei da morte libertar-se, mas para que o cumprimento da arte tenha sentido, não, portanto, o cumprimento com sentido da vida. Como Kafka aponta no seu diário em 13 de Dezembro de 1914[i], as melhores páginas escreveu-as para morrer contente, porque essas suas melhores páginas não reflectem sobre a vida ou o real mas sobre a própria definição de arte, que encontra na morte a simultaneidade do saber de mestre e eterno aprendiz. O que se estabelece com a morte, e verificamos isso em muitas obras literárias deste século, é, a todos os níveis, uma relação de liberdade profunda e que está presente de um modo radical em todas as consciências modernas. Em Broch, como em Faulkner, essa liberdade necessariamente humana, estaria posta em causa se não houvesse esse arco tensional da vida, através da arte, para a morte. Porque nos dois autores, e sobretudo nas suas principais personagens, a vida em sua inteira liberdade não ficaria completa se não houvesse o enfrentar essa suprema verdade que é a morte. Abandonar a luta ou fugir a essa força que se move e nos atrai para um fim, é abandonarmo-nos ao domínio da máxima indiferenciação que é o real, abandonando-nos à falha «genética» do mundo que é irreparável. Mas como só aos humanos isto aflige, por ora, é nas obras deles que deve ser impressa a sua topografia: é esta a utilidade da literatura e, porventura, a única. É neste diálogo entre falhas que se mostram e têm naturezas diferentes que o mundo de cada um, e possivelmente o todo, dia a dia recomeça até ao momento em que a falha for tão falhadamente iluminada que já não reste dela senão um sinal, porque falhar melhor é sempre falhar sem luz.
Toda a analítica da actualidade que transporte ou apenas deseje transportar em si uma cura, não foge do percurso da imensa claridade até à terna sombra que não é mais do que esse sinal que atrás referimos. Como a história de Benjamin, queremos primeiro cegar para depois ganharmos, pela arte, milagrosamente a visão. Ou como diz Broch, através do pedido de Virgílio ao seu médico, «cura-me para que possa morrer»[ii]. Só a partir deste momento, quando as palavras cumprirem a arte poderão estas voltar-se para a sua origem que não deverá estar muito afastada do trágico ou da dupla condição humana. As línguas esqueceram-se de si para servir o humano e o seu espírito, para gerar esse confronto em vida com a máxima determinação. Estão agora prontas, no seu silêncio, a revelarem-se. Este parece ser o seu fito. Tendo escutado a dor dos homens, chegou o momento de se escutarem, não olhando para o futuro mas olhando para o passado, em tensão com a origem, onde deve estar o nascimento de todas as línguas e suas causas. Neste momento deve também haver o que suspenso desde há muito aguarda uma incarnação. Toda a arte, mesmo a das grutas, é apocalíptica, não é de hoje esta inclinação. É apocalíptica não no sentido em que, revelado, todo o mundo volta ao caos primordial mas se torna apenas uma subtil revelação.
Toda a analítica da actualidade que transporte ou apenas deseje transportar em si uma cura, não foge do percurso da imensa claridade até à terna sombra que não é mais do que esse sinal que atrás referimos. Como a história de Benjamin, queremos primeiro cegar para depois ganharmos, pela arte, milagrosamente a visão. Ou como diz Broch, através do pedido de Virgílio ao seu médico, «cura-me para que possa morrer»[ii]. Só a partir deste momento, quando as palavras cumprirem a arte poderão estas voltar-se para a sua origem que não deverá estar muito afastada do trágico ou da dupla condição humana. As línguas esqueceram-se de si para servir o humano e o seu espírito, para gerar esse confronto em vida com a máxima determinação. Estão agora prontas, no seu silêncio, a revelarem-se. Este parece ser o seu fito. Tendo escutado a dor dos homens, chegou o momento de se escutarem, não olhando para o futuro mas olhando para o passado, em tensão com a origem, onde deve estar o nascimento de todas as línguas e suas causas. Neste momento deve também haver o que suspenso desde há muito aguarda uma incarnação. Toda a arte, mesmo a das grutas, é apocalíptica, não é de hoje esta inclinação. É apocalíptica não no sentido em que, revelado, todo o mundo volta ao caos primordial mas se torna apenas uma subtil revelação.
04 abril, 2006
DO PROJECTO HUMANO EM TRADUÇÃO

(Ao ler O Absoluto que Pertence à Terra, de Maria Filomena Molder [Vendaval,2005], lembrei-me deste texto. Espero mais tarde falar realmente do livro)
O escritor actual aproxima-se mais da ideia de tradutor do que de autor[i]. Perante a ideia de tudo estar dito ou não ser capaz de ser dito, o escritor limita-se a reunir na língua outra língua, porventura com uma gramática e uma semântica própria, sem nunca se saciar. Por este facto fica para sempre afastado do domínio da verdadeira criação, com marca de autor, que é o original. Só apenas este sacia abrindo as portas da glória. A noção de citação no dossier contemporâneo, como podemos ler por exemplo em Benjamin, está presa àquela ideia de o autor já não o poder ser senão em tradução. Assim, de cada vez que se cita, o que escolhemos é uma espécie de mónada que não só resume a obra mas insere, nas palavras citadas ou transcritas, a sua totalidade. Parece ser mais fácil, sobretudo pela sensibilidade apocalíptica, pelo receio do fecho do tempo, da quebra da sua durabilidade, escolher um pequeno espaço da língua que traduza e ilumine o restante. Se as grandes obras do romantismo e do realismo acabaram para dar lugar neste fim de século a pequenos livros, cada vez mais finos, é normal que a citação ocupe o limite deste trajecto. Mas não estamos livres, depois do fim da aura benjaminiana, da nossa identidade, ou o que em nós assim lhe podemos chamar, que substitui em parte a glória, ser uma acumulação de evidências. Evidências, sobretudo, que nada dizem aos outros – que terão certamente, conhecendo a obra, outra citação a opor como se de uma forma de vida se tratasse, e assim sendo, nunca poderão servir de guia ou marcas da genialidade deixadas na paisagem cultural para serem seguidas pelos que vierem (como entendia Kant, na Crítica da Faculdade do Juízo, a ideia de génio e genialidade). A singularidade da citação, que é a singularidade de uma escolha em-si, permanece encerrada para sempre (excluindo o citador), pelo que não tem interesse afirmar das diferenças da voz interior que é diferente em quem cria e em quem traduz: este é um reino sem fixação. Não podemos por isso distinguir, no momento actual, aquilo que no haver, devir, distingue o criador do tradutor. Se a glória era coisa que os distinguia também esta hoje pouco importa pois sucumbiu ao efémero.
Entre escutar a voz e ser a própria voz a diferença é curta em exercício, embora a saibamos abismo. A língua não é real, e assim sendo, a sua expressão cabe em todos os suportes legíveis como um acordo semântico já previamente estabelecido em qualquer língua ou numa língua comum a haver. Só reconhecemos um poema original no mesmo espaço em que identificamos o mesmo poema traduzido. Quem diz um poema diz qualquer texto. O antes não tem decifração, apenas ganha o nosso interesse a partir dessa «habitação passageira»[ii] que já tem luz suficiente não para distinguir completamente (esse é uma função e um acto individual com uma gramática própria) mas para iluminar a coisa. Claro que há errâncias (que são traduções e é uma qualidade da língua) que nenhuma habitação contempla mas, possivelmente, também o tradutor não estava interessado em abrigar-se nessa habitação por duas razões: ser genial ou insuficiente domínio das línguas[iii]. Esta habitação é única e singular, e tem apenas uma porta como o destino, deixando por ela passar o que cumpre as seguintes regras: primeira, o que é transitório, o que não vai permanecer; segunda, o que está de passagem, em percurso afeccional para o entendimento da comunidade dos vivos; terceiro, o que não se mostra frágil, doente, isso quebraria as duas anteriores regras[iv]; e por último, nessa habitação tudo tem de conviver. É a partir daqui, e sobretudo a partir da quarta regra a cumprir, no direito de admissão, que a indiferença cresce para nós, con-fundindo original com tradução, autor com tradutor, língua com língua. Repare-se, no entanto, que a indiferença completa não pode existir no interior da habitação (não podemos pensar isso como não podemos pensar a diferença radical, o inumano por exemplo) e quando isto parece suceder há uma ordem de expulsão, o que ocorre quando o domínio de uma língua, a sua solidez, eclipsa a língua materna, a língua do tradutor.
[i] Paul Valéry é um entre muitos que defendem a ideia de o acto da escrita ser sempre um acto de tradução. Ideia também apresentada no prefácio à tradução francesa da obra poética de Constantin Kavafis, POR Marguerite Yourcenar. Valery afirma: «Écrire quoi ce soit, aussitôt que l’acte d’écrire exige de la refléxion, et n’est pas l’inscription machinale et sans arrêts d’une parole intérieure toute spontanée, est un travail de traduction exactement comparable à celui qui opère la transmutacion d’une texte d’une langue dans une autre» ou ainda «Nos idées nous sont propres et pourtant étrangères, comme nous sont propres et étrangères les douleurs Qui nous viennent traverser», Ouevres I, Biblio.de la Pleiade, NRF, Paris, 1955, pg.211 e 321. Para o mesmo assunto Cfr. «A propósito de uma tradução» em Semear na Neve. Maria Filomena Molder. Relógio d’Água, Lisboa, 1999, pgs. 24-39, onde, citando Hamann, se diz «que toda a fala é um acto de tradução».
[ii] «Semear na Neve»,pg.32.
[iii] Para a primeira razão temos o exemplo, e outros abundam, de Hölderlin na sua tentativa de traduzir Sófocles, que pretendia derradeira e nunca o pode ser. Para a segunda temos outros milhares, conjunto muito mais vasto que o anterior que abunda na tradução e mesmo nos originais.
[iv] Penso esta habitação como uma «pensão» clandestina.
15 março, 2006
O Trânsito da Pintura

(para uma exposição de Ezequiel)
Desejamos ser voláteis enquanto a mão se afunda na tinta, na cor que é o enigma da terra, pois sua superfície. O pincel do pintor não é mais que um dedo hábil [táctil], robótico, dessa veia de cores que se levanta e distingue. Nada há a dizer aos olhos. Também eles livres procuram a fonte que é a mesma do pincel; olhos independentes que chocam com uma emoção ou, talvez e apenas, a vertigem do crescimento desregrado. E contra este desregramento natural o pintor nada mais pode fazer que “enquadrar” [entaipar] a pintura para que esta não absorva o mundo como um espelho e o multiplique.
O quadro quer ser Outro, e se não em-si, nos sinais que nele abundam, seja no aparelho de circulação da cor, seja nos óvulos solitários e entumecidos que estão prestes a rebentar na visão, como uma bactéria, contaminando. Por estranho que pareça a pintura quer pertencer-nos, negando, no movimento, a profundidade, abeirando-se da superfície colorida como bolhas que rebentam no fundo dos nossos olhos.
Há, nesta pintura, uma espécie de jogo cujo objecto é o desejo a fracassar mas mesmo assim a querer tornar-se potente em nós.
Quando caminharmos ao encontro das telas, olhando-as de frente ou de través, o traço em novelo esconde um olho, uma espécie de buraco negro.

06 março, 2006
Alguns Apontamentos sobre Arte

Arte não reproduz o visível, torna visível
Paul Klee, Escritos sobre a Arte
(na imagem: reprodução da obra «Mainpic» de Thomas Hirschhorn. PDA)
É evidente que existe hoje em dia uma necessidade de se proceder a uma identificação dos objectos artísticos, mesmo que seja a partir da sua desconstrução, para a partir desta acção se constituir uma sistemática da arte contemporânea. É igualmente evidente que se é fácil a classificação do mundo natural, uma sistemática da flora, por exemplo, e de muitos objectos humanos, é difícil criar páginas brancas, para inscrição futura, na sistemática da arte que chegou a este tempo. A razão é simples: muitos dos objectos artísticos perderam algumas características que «suprimiam» a dúvida de um dado objecto ser ou não colocado no campo artístico. O substrato, os materiais, as formas perderam-se em parte por uma desnaturalização da arte; e as qualidades que emergiam no sensível deslocaram-se devido ao desregulamento das noções de espaço e tempo.
Há dois tempos que provocaram esta dificuldade de catalogação: o primeiro, que se pode situar depois da primeira guerra mundial, foi a elevação do fragmento a categoria estética (bem visível na forma como os olhos vêem a paisagem na literatura e nas artes plásticas); o segundo, num tempo que alguns chamam de pós-industrial, a partir da Segunda guerra mundial, a elevação do virtual a categoria estética. Estas categorias não são «figurações» voluntárias de uma representação do mundo, mas enformações de uma problematicidade ontológica que desde o século dezoito tem colocado a condição humano e a sua constituição no centro do pensar (definindo pensar de um modo cartesiano que inclui também o sentir). Afastados cada vez mais da ideia de natureza (que se arrasta desde a antiguidade clássica) e do divino redentor, pela razão discursiva e pela linguagem, ao homem cabe uma tarefa imensa: tentar a possibilidade de uma marca e que essa marca seja ímpar no mundo. Assim, aliando-se a uma sensibilidade artística surge uma sensibilidade pessoal, com uma semântica do singular, que apenas pontua o rastro da obra, deixando de se ver um continuum. Ora, quem hoje se encontra voltado para as origens do objecto artístico ou da própria arte encontra não uma linha que dar-lhe-ia significação, mas uma translinearidade, não suportando por isso qualquer referencialidade e significação horizontal. Se o isto é e perdura do objecto clássico se constituía no presente e, pela perduração de si e da interpretação, se prolongava no futuro, hoje todo o objecto de arte abeira-se do futuro, e do espaço de contínua significação que aí existe, e é só por este discurso, ou uma literatura da obra, que se ganha o objecto e este o presente (cfr.Baudrillard e, sobretudo, nota sobre J.M.Lefebvre, em «Para uma Crítica da Economia Política do Signo», ed.70, pg.158). É esta forma de identificação e de presentificação que se tornou diferente, constituindo uma espécie de método que não pode ser usado no cânon ou numa sistemática clássica.
Por outras palavras, a concepção da arte até ao sec.XX supunha o transcendental (na Crítica da Razão Pura, Kant classificou a estética transcendental como o lugar de esclarecimento das condições de possibilidade da sensibilidade). Isto é, toda a arte, a sua produção e a sua relação com os homens remetiam para uma verdade, um absoluto e, por fim, para a própria experiência. Esta experiência não podia na altura ser pensada sob o ponto de vista da utilidade ou da elucidação das formas de produção, mas do indizível (é ainda do que não pode ser dito mas apenas anunciado que partem as noções do belo e sublime para Lyotard. Cfr., por outro lado, o célebre final do Tractatus de Wittgenstein). Este indizível era da ordem da transcendência. Mas como não pode ser do domínio do religioso, ele torna-se reflexivo (Cfr.Hegel na Estética): a arte torna-se reflexiva, tomando recentemente (o que já acontecia nas vanguardas do sec. XX), a reflexividade como a sua única característica reguladora e atractora do pensar. A obra é auto-referente e é reflexiva porque a significação que dela emana e nela está contida apenas pode ser encontrada na reflexão que originando uma nova espécie de estética deriva dela o prazer.
(na imagem: reprodução da obra «Mainpic» de Thomas Hirschhorn. PDA)
É evidente que existe hoje em dia uma necessidade de se proceder a uma identificação dos objectos artísticos, mesmo que seja a partir da sua desconstrução, para a partir desta acção se constituir uma sistemática da arte contemporânea. É igualmente evidente que se é fácil a classificação do mundo natural, uma sistemática da flora, por exemplo, e de muitos objectos humanos, é difícil criar páginas brancas, para inscrição futura, na sistemática da arte que chegou a este tempo. A razão é simples: muitos dos objectos artísticos perderam algumas características que «suprimiam» a dúvida de um dado objecto ser ou não colocado no campo artístico. O substrato, os materiais, as formas perderam-se em parte por uma desnaturalização da arte; e as qualidades que emergiam no sensível deslocaram-se devido ao desregulamento das noções de espaço e tempo.
Há dois tempos que provocaram esta dificuldade de catalogação: o primeiro, que se pode situar depois da primeira guerra mundial, foi a elevação do fragmento a categoria estética (bem visível na forma como os olhos vêem a paisagem na literatura e nas artes plásticas); o segundo, num tempo que alguns chamam de pós-industrial, a partir da Segunda guerra mundial, a elevação do virtual a categoria estética. Estas categorias não são «figurações» voluntárias de uma representação do mundo, mas enformações de uma problematicidade ontológica que desde o século dezoito tem colocado a condição humano e a sua constituição no centro do pensar (definindo pensar de um modo cartesiano que inclui também o sentir). Afastados cada vez mais da ideia de natureza (que se arrasta desde a antiguidade clássica) e do divino redentor, pela razão discursiva e pela linguagem, ao homem cabe uma tarefa imensa: tentar a possibilidade de uma marca e que essa marca seja ímpar no mundo. Assim, aliando-se a uma sensibilidade artística surge uma sensibilidade pessoal, com uma semântica do singular, que apenas pontua o rastro da obra, deixando de se ver um continuum. Ora, quem hoje se encontra voltado para as origens do objecto artístico ou da própria arte encontra não uma linha que dar-lhe-ia significação, mas uma translinearidade, não suportando por isso qualquer referencialidade e significação horizontal. Se o isto é e perdura do objecto clássico se constituía no presente e, pela perduração de si e da interpretação, se prolongava no futuro, hoje todo o objecto de arte abeira-se do futuro, e do espaço de contínua significação que aí existe, e é só por este discurso, ou uma literatura da obra, que se ganha o objecto e este o presente (cfr.Baudrillard e, sobretudo, nota sobre J.M.Lefebvre, em «Para uma Crítica da Economia Política do Signo», ed.70, pg.158). É esta forma de identificação e de presentificação que se tornou diferente, constituindo uma espécie de método que não pode ser usado no cânon ou numa sistemática clássica.
Por outras palavras, a concepção da arte até ao sec.XX supunha o transcendental (na Crítica da Razão Pura, Kant classificou a estética transcendental como o lugar de esclarecimento das condições de possibilidade da sensibilidade). Isto é, toda a arte, a sua produção e a sua relação com os homens remetiam para uma verdade, um absoluto e, por fim, para a própria experiência. Esta experiência não podia na altura ser pensada sob o ponto de vista da utilidade ou da elucidação das formas de produção, mas do indizível (é ainda do que não pode ser dito mas apenas anunciado que partem as noções do belo e sublime para Lyotard. Cfr., por outro lado, o célebre final do Tractatus de Wittgenstein). Este indizível era da ordem da transcendência. Mas como não pode ser do domínio do religioso, ele torna-se reflexivo (Cfr.Hegel na Estética): a arte torna-se reflexiva, tomando recentemente (o que já acontecia nas vanguardas do sec. XX), a reflexividade como a sua única característica reguladora e atractora do pensar. A obra é auto-referente e é reflexiva porque a significação que dela emana e nela está contida apenas pode ser encontrada na reflexão que originando uma nova espécie de estética deriva dela o prazer.
28 fevereiro, 2006
Olhei rios a correr da foz para a nascente

Recapitulação, de António Salvado
Ed. «Estudos de Castelo Branco»
2005
Atravessa estes poemas uma língua funda, que vem dos mesmos tempos da infância, e que já pouco se ouve. Há palavras que ressoam na minha memória. Para algumas preciso já de uma guia. E depois é vê-las a participarem nas longas estações das beiras, a comerem a terra que já ninguém quer, exceptuando aqueles (como António Salvado) que fizeram do nosso interior a sua pátria sensível, a terra mátria. Também eu sabia, pela estrada velha, que depois de Ródão era a minha pátria que cheirava. Passam longe as novas rodovias, longe da pobreza e do silêncio com que se fazem ainda muitos homens. Os poemas de António Salvado não tratam apenas desse afecto teimoso que um dia o fez agarrar-se àquelas terras, falam também do sofrer do dia e do seu peso, num misto de alegria e dissabor. Mas nalguns, afastam-se as palavras dolorosas, para darem o lugar àquelas que tratam o amor por tu: é a sua voz secreta peregrina «que ora se veste de azul ora de negro»; ora contemplando a Luz, ora a via que será de pez «onde um anjo caído encolhe as asas».
Mestre no soneto (como é evidente no seu livro «Recapitulação»), enlaçam-me os seus versos em coisas bem antigas e bem próximas, como se o tempo, ou melhor, a memória, fosse a faculdade que resta ao poeta para dizer a vida e o que por este lado bem humano prende o homem à terra: uma voz nua e descoberta / até que o tempo em eco se converta (citação de Luís de Camões, Canção VI, que abre o livro). Não podemos evitar trazer esta voz para a cidade, para que, se possível, amenize este tempo de fragmentos feito, como se ouvíssemos a voz dos que nos precederam e nos ensinaram a escutar a água, a lançar a semente à terra, a vê-la ser planta e flor onde poisávamos os calções quando era Verão e ao corpo apetecia nadar nas ribeiras que descem da Gardunha.
Há também na sua voz um grão de dor, contra a apatia, contra a vaidade, contra o efémero (que a notícia da ida e volta potencia) e, sobretudo, a relevância do desejo que tarda a cumprir-se: «deixar que as impurezas se consumam / e que outra vez as águas raiem» lá no Interior. Há também na sua voz, em versos, a impotência de nada poder fazer contra este tempo, não só aquele que apenas alguns sublima, injustamente, mas do Outono que lhe caiu num corpo por «cicatrizes fundas» percorrido.
Só que nestes poemas, e sobre aquele tempo, ergue-se um bater de asas no restolho e depois um silêncio que nos sorve para o tempo já distante em que nos perdíamos nas «ravinas dos pragais», procurando entre as pedras «um sinal d’ervas raras». E com estes poemas aí nos escondemos do que vem depois e é já presente mas que nós, propositadamente, ignoramos, pois «pela língua ainda vive / uma doçura que a memória guarda».
Ler António Salvado é voltar àquele tempo que é meu, bem em bulício na infância; mas é também senti-lo coberto por outra língua que o poeta usa para o resgatar e mo ceder inteiro.
Ed. «Estudos de Castelo Branco»
2005
Atravessa estes poemas uma língua funda, que vem dos mesmos tempos da infância, e que já pouco se ouve. Há palavras que ressoam na minha memória. Para algumas preciso já de uma guia. E depois é vê-las a participarem nas longas estações das beiras, a comerem a terra que já ninguém quer, exceptuando aqueles (como António Salvado) que fizeram do nosso interior a sua pátria sensível, a terra mátria. Também eu sabia, pela estrada velha, que depois de Ródão era a minha pátria que cheirava. Passam longe as novas rodovias, longe da pobreza e do silêncio com que se fazem ainda muitos homens. Os poemas de António Salvado não tratam apenas desse afecto teimoso que um dia o fez agarrar-se àquelas terras, falam também do sofrer do dia e do seu peso, num misto de alegria e dissabor. Mas nalguns, afastam-se as palavras dolorosas, para darem o lugar àquelas que tratam o amor por tu: é a sua voz secreta peregrina «que ora se veste de azul ora de negro»; ora contemplando a Luz, ora a via que será de pez «onde um anjo caído encolhe as asas».
Mestre no soneto (como é evidente no seu livro «Recapitulação»), enlaçam-me os seus versos em coisas bem antigas e bem próximas, como se o tempo, ou melhor, a memória, fosse a faculdade que resta ao poeta para dizer a vida e o que por este lado bem humano prende o homem à terra: uma voz nua e descoberta / até que o tempo em eco se converta (citação de Luís de Camões, Canção VI, que abre o livro). Não podemos evitar trazer esta voz para a cidade, para que, se possível, amenize este tempo de fragmentos feito, como se ouvíssemos a voz dos que nos precederam e nos ensinaram a escutar a água, a lançar a semente à terra, a vê-la ser planta e flor onde poisávamos os calções quando era Verão e ao corpo apetecia nadar nas ribeiras que descem da Gardunha.
Há também na sua voz um grão de dor, contra a apatia, contra a vaidade, contra o efémero (que a notícia da ida e volta potencia) e, sobretudo, a relevância do desejo que tarda a cumprir-se: «deixar que as impurezas se consumam / e que outra vez as águas raiem» lá no Interior. Há também na sua voz, em versos, a impotência de nada poder fazer contra este tempo, não só aquele que apenas alguns sublima, injustamente, mas do Outono que lhe caiu num corpo por «cicatrizes fundas» percorrido.
Só que nestes poemas, e sobre aquele tempo, ergue-se um bater de asas no restolho e depois um silêncio que nos sorve para o tempo já distante em que nos perdíamos nas «ravinas dos pragais», procurando entre as pedras «um sinal d’ervas raras». E com estes poemas aí nos escondemos do que vem depois e é já presente mas que nós, propositadamente, ignoramos, pois «pela língua ainda vive / uma doçura que a memória guarda».
Ler António Salvado é voltar àquele tempo que é meu, bem em bulício na infância; mas é também senti-lo coberto por outra língua que o poeta usa para o resgatar e mo ceder inteiro.
(O autor publicou também, na mesma editora e em 2005, um conjunto de textos em prosa a que deu o nome Modulações).
22 fevereiro, 2006
A INTERVENÇÃO CULTURAL de Thomas Hirschhorn
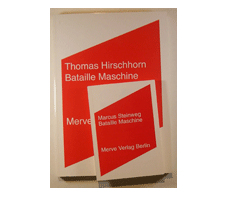
(notas à exposição em Serralves-Porto)
As diferentes intervenções deste artista suíço no espaço público dedicadas, sobretudo, a escritores, filósofos e artistas, são sempre instalações montadas para um olhar que as vê desmoronar-se. A precariedade é qualidade essencial da obra de Thomas Hirschhorn (TH) que não quer ser rotulado de trabalhador social mas de artista, legitimando-se a si e à obra.
Aquela qualidade, por paradoxal que pareça, está presa a um conjunto de obras de arte que se constituíram para um Espaço Público que, no entender do artista, se oferece e obriga a um determinado conjunto de qualidades, insistindo na colaboração entre o espaço e a obra. O paradoxal reside no facto de sempre considerarmos a obra do espaço público, ao contrário do museu ou de uma galeria, como obra com uma duração, que as obras de Hirschhorn não têm. Este engagement da obra ao espaço reflecte uma posição bem clara do artista em toda a produção: há uma acção política na obra de arte. E para além desta acção (repare-se num quadro ético e moral constante como substrato da sua obra) há uma conformação da obra a um melhor entendimento do mundo: a arte é uma ferramenta para entender o mundo. Está assim traçado um quadro geral crítico da obra deste suíço. Se por um lado rejeita ser um trabalhador social, considerando-se apenas artista, por outro lado conforma a sua obra a um espaço público, impregnando-a de qualidades (a própria matéria prima tem estas qualidades) que lhe são adversas: o descontrolo, a assimetria, a falha e, com o tempo, a queda. Tudo na obra deste artista é, então, precário (Museu Precário Albinet).
A ideia de monumento, ou melhor, a noção clássica de monumento, é bombardeada pela obra de TH. A ideia geral deste artista é fazer, a partir da obra que o tenha marcado, um monumento precário. Na construção destes monumentos (dedicados a filósofos como Deleuze, Spinoza, Gramsci ou Bataille) [e quiosques (dedicados a escritores como Robert Walser e Ingeborg Bachmann) e altares (dedicados a escritores ou artistas como Mondrian e Raymond Carver] persiste destruída a formulação original. TH diz que os seus monumentos são também construídos por duas partes: a parte clássica, o corpo e a forma de quem é representado e uma parte informativa que contém a informação possível: livros, dados biográficos, vídeos, etc. Esta última parte pode ser entendida como o mapeamento parcial da acção do autor: dá a ver aos outros uma rede de afinidades electivas na relação do artista com outro artista e o seu pensar. Lembro-me de ver grandes quadros em Anschool II, ou em cima de mesas, desenhados com o traçado desses afectos, comportando fotografias, capas de livros, dados biográficos, etc, ie, relações. TH relata mesmo, sobre o Monumento Bataille, que pediu a Christophe Fiat, que lhe explicasse a obra deste escritor francês, encorajando-o a fazer um mapa da obra de Bataille. O problema da relação é tão importante em TH que obriga a arte, como vimos, a conformar-se à rede de relações estabelecidas pelo espaço público; e dentro da exposição, qualquer que ela seja, obriga também os autores, e em maior extensão, os seus monumentos, a uma rede de afectos perecíveis que para o artista pretende ser uma difusão da obra do filósofo.
Será?
Esta difusão assemelha-se a qualquer página de publicidade de uma editora ou de divulgação de uma palestra ou conferência. Só que esta notícia o artista desmonta-a no espaço e no tempo de vida do autor e no espaço do objecto artístico. Há apenas esta ideia: divulgação. Se o artista pretende com estes monumentos celebrar um filósofo, não o celebra em reflexão ou pensamento, mas na admiração que sente, colocando-a no centro da precariedade da obra. A morte atinge tudo: dos materiais que usa à admiração. O que perdura e resiste pertence ao espectador ou observador. Essa rede ou rizoma não desenvolve um pensamento crítico sobre o autor ex-posto, mas uma reflexão sobre o efémero. Cremos que TH pensa o contrário como fundamento das suas construções (Cfr. Statement: «Monuments», folha da exposição em Serralves, Fevereiro de 2002).
Afinal o que TH pretende, diz-nos, é afirmar formas: entendo a arte como a afirmação de formas.
E estas formas, sejam elas altares, monumentos ou quiosques, possuem qualidades que podem ser consideradas denominadores comuns: são sobre alguém, obra ou vida, que mantém com o artista uma relação e uma tensão; as construções podem ser deslocalizadas, ie, não interessa o espaço público onde se encontram, embora sofram, na sua forma e disposição alterações na deslocalização; são de duração limitada e, no dizer do artista, a apresentação de alguém não é feita sob o efeito de preocupações estéticas mas em pura energia. Desconhecemos o impacto desta última qualidade na obra de arte de TH, embora diga assiduamente que apenas lhe interessa expressar uma energia.
A rede de altares, monumentos e quiosques perde-se apenas, e de uma forma superficial, não subterrânea, na quantidade de objectos expostos. TH explica que não gosta da arrumação das galerias, museus ou qualquer espaço expositivo. Lembra-se sempre da ordem arquitectónica, por ela de uma casa, e por esta de uma classe social, uma elite. Mais é Mais, expressão que usa para afirmar a importância da quantidade como «facto aritmético e como facto político». Entendemos, mas entramos aqui com o problema do ruído semântico e físico (quando não conseguimos movimentar-nos correctamente pela exposição, como se ela nos obrigasse a um movimento, a uma penetração prevista na exposição, ou a uma negação do movimento aleatório, à deriva como fazemos numa exposição «normal» em que o espaço da circulação é livre para a deriva do corpo e do olhar). Em Anschool II, persistem os dois ruídos. Embora TH retome sempre a ideia que não pretende inundar o espaço e os que vêem, mas ajudar, na quantidade, o «individual a afirmar a sua importância», cremos que a palavra de que foge, submersão, provém da massificação do individual, que pretende, per-si, afirmar-se capaz de ser pensado no colectivo mas não consegue por domínio do ruído semântico das obras (complexificação das interpretações numa rede semântica que não consegue acordar-se para o sentido prioritário) e pelo ruído físico, uma espécie de ruído táctil, que nos torna, enquanto viajantes, cansados e adversos a alguns movimentos obrigatórios.
TH parece ter razão neste impulso pela quantidade e pela individualidade num aspecto: como ele afirma na explicação do seu gosto pela colecção Barnes (os quadros são dispostos por tamanhos e não por tema ou data), o ruído semântico e físico anula muitos dos objectos, fazendo sobressair apenas alguns, que mantém com a linguagem uma tensão, e criam nos que circulam uma espécie de proto-literatura (esta que eu faço aqui, por exemplo): os monumentos, como exemplo, porque nos afectam e criam connosco relações especiais, prolongamentos que somos dessas escolhas dispostas nesse rizoma ou rede.
Aquela qualidade, por paradoxal que pareça, está presa a um conjunto de obras de arte que se constituíram para um Espaço Público que, no entender do artista, se oferece e obriga a um determinado conjunto de qualidades, insistindo na colaboração entre o espaço e a obra. O paradoxal reside no facto de sempre considerarmos a obra do espaço público, ao contrário do museu ou de uma galeria, como obra com uma duração, que as obras de Hirschhorn não têm. Este engagement da obra ao espaço reflecte uma posição bem clara do artista em toda a produção: há uma acção política na obra de arte. E para além desta acção (repare-se num quadro ético e moral constante como substrato da sua obra) há uma conformação da obra a um melhor entendimento do mundo: a arte é uma ferramenta para entender o mundo. Está assim traçado um quadro geral crítico da obra deste suíço. Se por um lado rejeita ser um trabalhador social, considerando-se apenas artista, por outro lado conforma a sua obra a um espaço público, impregnando-a de qualidades (a própria matéria prima tem estas qualidades) que lhe são adversas: o descontrolo, a assimetria, a falha e, com o tempo, a queda. Tudo na obra deste artista é, então, precário (Museu Precário Albinet).
A ideia de monumento, ou melhor, a noção clássica de monumento, é bombardeada pela obra de TH. A ideia geral deste artista é fazer, a partir da obra que o tenha marcado, um monumento precário. Na construção destes monumentos (dedicados a filósofos como Deleuze, Spinoza, Gramsci ou Bataille) [e quiosques (dedicados a escritores como Robert Walser e Ingeborg Bachmann) e altares (dedicados a escritores ou artistas como Mondrian e Raymond Carver] persiste destruída a formulação original. TH diz que os seus monumentos são também construídos por duas partes: a parte clássica, o corpo e a forma de quem é representado e uma parte informativa que contém a informação possível: livros, dados biográficos, vídeos, etc. Esta última parte pode ser entendida como o mapeamento parcial da acção do autor: dá a ver aos outros uma rede de afinidades electivas na relação do artista com outro artista e o seu pensar. Lembro-me de ver grandes quadros em Anschool II, ou em cima de mesas, desenhados com o traçado desses afectos, comportando fotografias, capas de livros, dados biográficos, etc, ie, relações. TH relata mesmo, sobre o Monumento Bataille, que pediu a Christophe Fiat, que lhe explicasse a obra deste escritor francês, encorajando-o a fazer um mapa da obra de Bataille. O problema da relação é tão importante em TH que obriga a arte, como vimos, a conformar-se à rede de relações estabelecidas pelo espaço público; e dentro da exposição, qualquer que ela seja, obriga também os autores, e em maior extensão, os seus monumentos, a uma rede de afectos perecíveis que para o artista pretende ser uma difusão da obra do filósofo.
Será?
Esta difusão assemelha-se a qualquer página de publicidade de uma editora ou de divulgação de uma palestra ou conferência. Só que esta notícia o artista desmonta-a no espaço e no tempo de vida do autor e no espaço do objecto artístico. Há apenas esta ideia: divulgação. Se o artista pretende com estes monumentos celebrar um filósofo, não o celebra em reflexão ou pensamento, mas na admiração que sente, colocando-a no centro da precariedade da obra. A morte atinge tudo: dos materiais que usa à admiração. O que perdura e resiste pertence ao espectador ou observador. Essa rede ou rizoma não desenvolve um pensamento crítico sobre o autor ex-posto, mas uma reflexão sobre o efémero. Cremos que TH pensa o contrário como fundamento das suas construções (Cfr. Statement: «Monuments», folha da exposição em Serralves, Fevereiro de 2002).
Afinal o que TH pretende, diz-nos, é afirmar formas: entendo a arte como a afirmação de formas.
E estas formas, sejam elas altares, monumentos ou quiosques, possuem qualidades que podem ser consideradas denominadores comuns: são sobre alguém, obra ou vida, que mantém com o artista uma relação e uma tensão; as construções podem ser deslocalizadas, ie, não interessa o espaço público onde se encontram, embora sofram, na sua forma e disposição alterações na deslocalização; são de duração limitada e, no dizer do artista, a apresentação de alguém não é feita sob o efeito de preocupações estéticas mas em pura energia. Desconhecemos o impacto desta última qualidade na obra de arte de TH, embora diga assiduamente que apenas lhe interessa expressar uma energia.
A rede de altares, monumentos e quiosques perde-se apenas, e de uma forma superficial, não subterrânea, na quantidade de objectos expostos. TH explica que não gosta da arrumação das galerias, museus ou qualquer espaço expositivo. Lembra-se sempre da ordem arquitectónica, por ela de uma casa, e por esta de uma classe social, uma elite. Mais é Mais, expressão que usa para afirmar a importância da quantidade como «facto aritmético e como facto político». Entendemos, mas entramos aqui com o problema do ruído semântico e físico (quando não conseguimos movimentar-nos correctamente pela exposição, como se ela nos obrigasse a um movimento, a uma penetração prevista na exposição, ou a uma negação do movimento aleatório, à deriva como fazemos numa exposição «normal» em que o espaço da circulação é livre para a deriva do corpo e do olhar). Em Anschool II, persistem os dois ruídos. Embora TH retome sempre a ideia que não pretende inundar o espaço e os que vêem, mas ajudar, na quantidade, o «individual a afirmar a sua importância», cremos que a palavra de que foge, submersão, provém da massificação do individual, que pretende, per-si, afirmar-se capaz de ser pensado no colectivo mas não consegue por domínio do ruído semântico das obras (complexificação das interpretações numa rede semântica que não consegue acordar-se para o sentido prioritário) e pelo ruído físico, uma espécie de ruído táctil, que nos torna, enquanto viajantes, cansados e adversos a alguns movimentos obrigatórios.
TH parece ter razão neste impulso pela quantidade e pela individualidade num aspecto: como ele afirma na explicação do seu gosto pela colecção Barnes (os quadros são dispostos por tamanhos e não por tema ou data), o ruído semântico e físico anula muitos dos objectos, fazendo sobressair apenas alguns, que mantém com a linguagem uma tensão, e criam nos que circulam uma espécie de proto-literatura (esta que eu faço aqui, por exemplo): os monumentos, como exemplo, porque nos afectam e criam connosco relações especiais, prolongamentos que somos dessas escolhas dispostas nesse rizoma ou rede.

20 fevereiro, 2006
A METÁFORA DA ILUSÃO

As novas intervenções no espaço de exposição
Todos já nos apercebemos de uma quantidade enorme de artefactos que colocados nas salas de uma exposição de arte contemporânea aí se assomam aos nossos sentidos, afectando-nos, sobretudo, pela interrogação: a coisa parece-nos deslocada, retirada de uma venha estrada, de um velho fontanário, de um corpo que já não existe. Esta imitação, esta mimesis, pretende recriar no espaço de exposição algo que naturalmente se perdeu? Em parte, não. É apenas evocação. Mas esta evocação parece ter um duplo sentido que não é contraditório, pois a sua afirmação como obra de arte preenche-se nesse duplo sentir, que é também um duplo pensar. Enquanto a obra se mostra demasiado estática numa observação directa (e repare-se que este tipo de obras são mais estáticas e, simultaneamente, mais leves que as demais, pintura, escultura, fotografia, etc., o que parece ser contraditório mas iremos ver que não é) ela devolve, através do nosso movimento, uma cinestesia que a elucida parcialmente. Dizemos em parte porque falta algo que está fora dela para se completar. Fora dela, não no sentido moderno do completo estético, mas porque a sua profunda manifestação em nós representa-se numa espécie de transbordo emocional que, ao contrário da maioria das obras de arte, é-lhe condição necessária. Este transbordo só existe se o espectador já experimentou a visão de algo semelhante fora do espaço da exposição, ie, nos objectos ou artefactos com utilidade no mundo. É verdade que, seguindo aqui um preceito heideggeriano, o objecto representado não tem nenhuma utilidade, nem nasceu com nenhuma serventia, quer portanto ser apenas uma obra de arte. Este objectos vivem de uma sucção da memória individual e colectiva, caracterizam-se por novas espécies de metáforas, cujo desvio implica o nosso retorno a uma experiência que nos emociona: é este o transbordo emocional: da nossa experiência para o objecto e nunca ao contrário.
Este tipo de obras de arte vivem mais que outras de relações míticas entre as diferentes estruturas arqueológicas que compõem o homem contemporâneo, ainda não completamente afastado do moderno e das suas afecções espaciais. O que gostamos desta fonte no meio da sala da exposição, não é que ela seja realmente uma fonte, nunca teve essa utilização, mas que faz em nós nascer novamente uma fonte: a fonte que experimentamos num dia quente de Julho. Secas as fontes, desalojadas da sua serventia, ingressaram no espaço da arte, assemelhando-se um pouco, que iremos elucidar, a objectos artísticos etnográficos o que é diferente de serem apenas objectos de etnografia. Aliás, se as obras de que falo fossem expostos num museu etnográfico o transbordo emocional, e o veio estético, eram insuficientes para fazerem delas obras de arte, faltava-lhes a metáfora da ilusão.
Estas obras chocam-nos pelo seu desenraizamento. Esta ideia de choque é bem contemporânea, presa à falta de correspondência com o real. A noção de desenraizamento (a desumanização da arte, ou melhor, a desnaturalização da arte) está preso ao homem urbano do sec.XX como foi bem identificado por Heidegger no seu ensaio «A Origem da Arte» (trad. portuguesa na obra Os Caminhos de Floresta, F.C.G.), em Benjamin no célebre texto «A Obra de arte na era da reprodutibilidade técnica ou em Ortega y Gasset (para citar apenas alguns). Seguimos aqui uma leitura muito interessante de Gianni Vattimo em A Sociedade Transparente, onde conjuga a palavra stoss (de Heidegger) com shock (de Benjamin). A primeira está mais ligada à precariedade humana, à evidência da morte, a esse desenraizamento que é causa de angústia no homem contemporâneo. A palavra shock «é definida por dois aspectos que caracterizámos seguindo as indicações de Benjamin e Heidegger: antes de mais, e fundamentalmente, ela não é mais do que uma mobilidade e hipersensibilidade dos nervos e da inteligência, característica do homem metropolitano. A esta excitabilidade e hipersensibilidade corresponde uma arte já não centrada na obra mas na experiência [...]
A segunda característica que constitui o shock como único resíduo da criatividade na arte da modernidade avançada é aquela que Heidegger pensa sobre a noção de stoss: isto é, o desenraizamento e a oscilação que têm a ver com a angústia e a experiência da mortalidade» (pg.64).
Então, a obra de arte que falamos caracteriza-se, por se centrar, simultaneamente, num objecto e numa experiência irrecuperáveis, cujo desenraizamento e deslocalização constituem no espectador uma metáfora da ilusão, e por ela se faz, parcialmente, a obra.
(a continuar)
Todos já nos apercebemos de uma quantidade enorme de artefactos que colocados nas salas de uma exposição de arte contemporânea aí se assomam aos nossos sentidos, afectando-nos, sobretudo, pela interrogação: a coisa parece-nos deslocada, retirada de uma venha estrada, de um velho fontanário, de um corpo que já não existe. Esta imitação, esta mimesis, pretende recriar no espaço de exposição algo que naturalmente se perdeu? Em parte, não. É apenas evocação. Mas esta evocação parece ter um duplo sentido que não é contraditório, pois a sua afirmação como obra de arte preenche-se nesse duplo sentir, que é também um duplo pensar. Enquanto a obra se mostra demasiado estática numa observação directa (e repare-se que este tipo de obras são mais estáticas e, simultaneamente, mais leves que as demais, pintura, escultura, fotografia, etc., o que parece ser contraditório mas iremos ver que não é) ela devolve, através do nosso movimento, uma cinestesia que a elucida parcialmente. Dizemos em parte porque falta algo que está fora dela para se completar. Fora dela, não no sentido moderno do completo estético, mas porque a sua profunda manifestação em nós representa-se numa espécie de transbordo emocional que, ao contrário da maioria das obras de arte, é-lhe condição necessária. Este transbordo só existe se o espectador já experimentou a visão de algo semelhante fora do espaço da exposição, ie, nos objectos ou artefactos com utilidade no mundo. É verdade que, seguindo aqui um preceito heideggeriano, o objecto representado não tem nenhuma utilidade, nem nasceu com nenhuma serventia, quer portanto ser apenas uma obra de arte. Este objectos vivem de uma sucção da memória individual e colectiva, caracterizam-se por novas espécies de metáforas, cujo desvio implica o nosso retorno a uma experiência que nos emociona: é este o transbordo emocional: da nossa experiência para o objecto e nunca ao contrário.
Este tipo de obras de arte vivem mais que outras de relações míticas entre as diferentes estruturas arqueológicas que compõem o homem contemporâneo, ainda não completamente afastado do moderno e das suas afecções espaciais. O que gostamos desta fonte no meio da sala da exposição, não é que ela seja realmente uma fonte, nunca teve essa utilização, mas que faz em nós nascer novamente uma fonte: a fonte que experimentamos num dia quente de Julho. Secas as fontes, desalojadas da sua serventia, ingressaram no espaço da arte, assemelhando-se um pouco, que iremos elucidar, a objectos artísticos etnográficos o que é diferente de serem apenas objectos de etnografia. Aliás, se as obras de que falo fossem expostos num museu etnográfico o transbordo emocional, e o veio estético, eram insuficientes para fazerem delas obras de arte, faltava-lhes a metáfora da ilusão.
Estas obras chocam-nos pelo seu desenraizamento. Esta ideia de choque é bem contemporânea, presa à falta de correspondência com o real. A noção de desenraizamento (a desumanização da arte, ou melhor, a desnaturalização da arte) está preso ao homem urbano do sec.XX como foi bem identificado por Heidegger no seu ensaio «A Origem da Arte» (trad. portuguesa na obra Os Caminhos de Floresta, F.C.G.), em Benjamin no célebre texto «A Obra de arte na era da reprodutibilidade técnica ou em Ortega y Gasset (para citar apenas alguns). Seguimos aqui uma leitura muito interessante de Gianni Vattimo em A Sociedade Transparente, onde conjuga a palavra stoss (de Heidegger) com shock (de Benjamin). A primeira está mais ligada à precariedade humana, à evidência da morte, a esse desenraizamento que é causa de angústia no homem contemporâneo. A palavra shock «é definida por dois aspectos que caracterizámos seguindo as indicações de Benjamin e Heidegger: antes de mais, e fundamentalmente, ela não é mais do que uma mobilidade e hipersensibilidade dos nervos e da inteligência, característica do homem metropolitano. A esta excitabilidade e hipersensibilidade corresponde uma arte já não centrada na obra mas na experiência [...]
A segunda característica que constitui o shock como único resíduo da criatividade na arte da modernidade avançada é aquela que Heidegger pensa sobre a noção de stoss: isto é, o desenraizamento e a oscilação que têm a ver com a angústia e a experiência da mortalidade» (pg.64).
Então, a obra de arte que falamos caracteriza-se, por se centrar, simultaneamente, num objecto e numa experiência irrecuperáveis, cujo desenraizamento e deslocalização constituem no espectador uma metáfora da ilusão, e por ela se faz, parcialmente, a obra.
(a continuar)
14 fevereiro, 2006
O PARAÍSO É JÁ ALI

Todos sabemos que a ciência e a técnica dá uso aos seus artefactos para o bem e para o mal (o século XX está cheio deste anivelamento ético e moral). A tecnologia não escapa a esta rotura de níveis. Mesmo que a invenção fosse concebida para um uso pacífico e como arquivo da memória individual e colectiva (lembremos, nos fins do século XIX, a invenção dos dispositivos técnicos de reprodução de som e imagem), os objectos técnicos começaram por servir a propaganda militar, política e económica e só muito mais tarde incorporaram as qualidades que estiveram na origem da sua invenção.
No sítio que procuramos na Internet para descobrir como montar um aparelho, encontramos com muita facilidade uma janela aberta para um lugar que nos ensina tudo sobre a construção de uma bomba; onde comprar a arma mais sofisticada e como usá-la. É portanto fácil, numa sociedade tecnológica aberta, receber os mesmos inimigos da sociedade tradicional. Só que o alcance parece ser muito distinto. O uso de armas ou outros engenhos de destruição é a derrocada da ideia de socialização e a emergência da ideia radical de individualização que encerra em si uma regra moral singular: é permitido fazer tudo, mesmo matar, desde que a minha moral o aprove e sirva uma ideia.
Theodore Kaczynski com a sua acção terrorista e o seu Manifesto Unabomber, apenas um exemplo, nada mais fez que aceitar como verdadeira aquela regra e cumprir o que ele pensava ser uma espécie de missão (esta palavra tem hoje, mais que nunca uma semântica original e orgânica), idêntica à contida no discurso do fundamentalismo religioso e político, e que desemboca no terrorismo. Desejando destruir os meios de produção tecno-industriais, fez tudo o que estava ao seu alcance para que essa destruição fosse global e irreversível, usando os instrumentos que a própria tecnologia lhe «fornecia» e os mesmos modos de actuação que esses meios realizam e globalizam. Esqueceu-se, porém, que a técnica apenas se pode destruir por duas vias: a primeira por implosão, um vírus maléfico, por exemplo; a segunda, por perder o seu espaço e tempo de uso, por anacronia ou destituição das funções de serventia, tornando-se assim um artefacto silencioso e estático entre as coisas naturais e artísticas, outra espécie de artesanato que avança para além dos museus já dedicados à técnica e à tecnologia.
Mas o olho (que é um fruto) dessa regra moral apaixonou-se por si e nenhum outro mundo ou perspectiva existe: apenas o olho em-paixão-consigo, sem espelho, com um slogan a néon que diz «o paraíso é já ali». E como em todas as paixões, não abundando em espaço e realidade, ao ali, que é o lugar do Paraíso, apenas se pode chegar por atalhos, que se crêem rápidos e eficazes. Para lá desses atalhos o regresso ao mundo natural e primitivo: a utopia que infesta o homem moderno que subjugado em-si, mas pensando ser pelos outros, sem rumo e objectivos, sentiu necessidade de uma afirmação pessoal, uma autonomia e uma liberdade. E esta disposição faz-se hoje, em alguns de entre nós, contra um domínio tecnológico que parece (e isso também é gerador de receio e pânico) não encontrar fronteiras ou etnias, estendendo-se para um espaço virtual por rarefacção do espaço real. Esta extensão começa, afectivamente, no nosso corpo através dos objectos técnicos que usamos e dos programas neles incorporados (para permanecerem eficazes e vivos).
Não é difícil na frustração tomar essa utopia como lugar realizável, mesmo que para tal utilize os atalhos e as regras morais mais inconvenientes. Chegaremos é sempre à conclusão que o desejo da utopia desrealiza-a, transformando-a num paradoxo, origem de um desassossego permanente.
No sítio que procuramos na Internet para descobrir como montar um aparelho, encontramos com muita facilidade uma janela aberta para um lugar que nos ensina tudo sobre a construção de uma bomba; onde comprar a arma mais sofisticada e como usá-la. É portanto fácil, numa sociedade tecnológica aberta, receber os mesmos inimigos da sociedade tradicional. Só que o alcance parece ser muito distinto. O uso de armas ou outros engenhos de destruição é a derrocada da ideia de socialização e a emergência da ideia radical de individualização que encerra em si uma regra moral singular: é permitido fazer tudo, mesmo matar, desde que a minha moral o aprove e sirva uma ideia.
Theodore Kaczynski com a sua acção terrorista e o seu Manifesto Unabomber, apenas um exemplo, nada mais fez que aceitar como verdadeira aquela regra e cumprir o que ele pensava ser uma espécie de missão (esta palavra tem hoje, mais que nunca uma semântica original e orgânica), idêntica à contida no discurso do fundamentalismo religioso e político, e que desemboca no terrorismo. Desejando destruir os meios de produção tecno-industriais, fez tudo o que estava ao seu alcance para que essa destruição fosse global e irreversível, usando os instrumentos que a própria tecnologia lhe «fornecia» e os mesmos modos de actuação que esses meios realizam e globalizam. Esqueceu-se, porém, que a técnica apenas se pode destruir por duas vias: a primeira por implosão, um vírus maléfico, por exemplo; a segunda, por perder o seu espaço e tempo de uso, por anacronia ou destituição das funções de serventia, tornando-se assim um artefacto silencioso e estático entre as coisas naturais e artísticas, outra espécie de artesanato que avança para além dos museus já dedicados à técnica e à tecnologia.
Mas o olho (que é um fruto) dessa regra moral apaixonou-se por si e nenhum outro mundo ou perspectiva existe: apenas o olho em-paixão-consigo, sem espelho, com um slogan a néon que diz «o paraíso é já ali». E como em todas as paixões, não abundando em espaço e realidade, ao ali, que é o lugar do Paraíso, apenas se pode chegar por atalhos, que se crêem rápidos e eficazes. Para lá desses atalhos o regresso ao mundo natural e primitivo: a utopia que infesta o homem moderno que subjugado em-si, mas pensando ser pelos outros, sem rumo e objectivos, sentiu necessidade de uma afirmação pessoal, uma autonomia e uma liberdade. E esta disposição faz-se hoje, em alguns de entre nós, contra um domínio tecnológico que parece (e isso também é gerador de receio e pânico) não encontrar fronteiras ou etnias, estendendo-se para um espaço virtual por rarefacção do espaço real. Esta extensão começa, afectivamente, no nosso corpo através dos objectos técnicos que usamos e dos programas neles incorporados (para permanecerem eficazes e vivos).
Não é difícil na frustração tomar essa utopia como lugar realizável, mesmo que para tal utilize os atalhos e as regras morais mais inconvenientes. Chegaremos é sempre à conclusão que o desejo da utopia desrealiza-a, transformando-a num paradoxo, origem de um desassossego permanente.
13 fevereiro, 2006
Esta tristeza tão enrolada na cal

Lavra e Pousio, de João Rui de Sousa
Publicações D.Quixote, 2005
1. A poesia já aconteceu no momento em que dela falamos ou escrevemos. O lugar da poesia é assim um lugar que está antes do seu acontecer, um lugar de espera que serve apenas o espaço do fenómeno e nada mais. Ao contrário de toda a linguagem, que se espalha pelos escombros do mundo reunindo-os ou deixando-os náufragos ao contágio de significação, a poesia desprende-se do dizer para esse lugar, pinga sem significado, como uma língua que existiu e se tornou incapaz, no progresso da espécie, de dizer o mundo, de o nomear. Não falo, que fique claro, de um resquício de um mundo e de uma língua que já não estão ao nosso alcance (embora saiba que há autores que assim se defendem), falo de um lugar que apenas se pode encher no encontro de algumas palavras, que pingando se desfazem em sentido.
2. À obra de João Rui de Sousa que começou com o livro Circulação, publicado no extinto Círculo de Poesia, da Moraes Editores, acrescenta-se agora este livro, que como é escrito em nota final, reúne oitenta e dois poemas escritos entre 1985 e 2004, a maioria publicados em jornais, revistas e volumes colectivos.
Estamos assim perante uma recolha de poemas de vários tempos, que como indica o título, sofreram da organização intrínseca à lentura dos dias.
Enquanto lia os três capítulos que dão forma a este livro, lembrei-me, muitas vezes, dos versos de Carlos de Oliveira: Rudes e breves as palavras pesam / mais do que as lajes ou a vida, tanto, / que levantar a torre do meu canto/ é recriar o mundo pedra a pedra.
Não falo da influência de Oliveira na depuração formal do versos nem do cheiro inebriante de Camões: o que de significativo esta poesia revela é um poeta que tendo-se mostrado sempre num movimento duplo, de quem revela a alegria de estar vivo e a pena de ser, deixa escorrer agora para os versos o desconcerto de um ocidental «com a deriva e o rombo / da quilha já em descida». Poderíamos, é claro, referir que o sujeito destes versos e o seu território é alguém que nunca tendo deixado de, com sarcasmo e ironia, apontar as vicissitudes do seu tempo, reflecte, muitas vezes neste livro, algo do português contemporâneo, urbanizado, e dessa longa tristeza, tão enrolada na cal, bem ao rés da nossa mesa (pg.27), cuja geografia afectiva, tão bem desenhada pelo português em rectângulo no fundo da Europa, teima em sumir-se no mar fora (pg.43), como a jangada de Saramago.
João Rui de Sousa, que nos habituou há muito a um relatório (poético) exaustivo do que é a condição humano, nunca afasta a presença de uma alegria, um caminho, ou como ele escreve, uma alegria de linho / na escuridão do sargaço (pg.50). O que esta poesia inscreve, como uma excisão no corpo de todos os leitores, é uma melodia táctil que constrói aos poucos um espaço auditivo muito próprio, muito rente à pele, como pequenas histórias que não podiam deixar de ser ditas, pronunciadas. Estes versos partem de um futuro qualquer, o do poeta, por exemplo, muito deixado ao abandono para o que será, e encaminham-se de olhos bem abertos para os poisos já vividos. O que de nostálgico emana desta poesia reside mais na sua musicalidade do que reviver um tempo que pertence ao olvido: neste confronto, funde-se na perfeição a destreza rítmica com o canto. E é por aqui que vamos na entrada do segundo capítulo.
A leitura desta parte solicita-nos para um tempo de construção que nos parece anterior à primeira parte e que é dominada por duas linhas de força, a saber: o trabalho e os dias, e uma linguagem solta num registo do quotidiano. Há, portanto, um contar de pequenas histórias, vertidas em verso, com a poderosa estrutura frásica e musical de João Rui de Sousa a dizer-se em quadros autobiográficos (como o Concerto para Estore, Buzina e Criança. Este título, como veremos adiante, bem poderia ser o nome de uma composição musical bem contemporânea). A passagem das partes, feita por uma porta sem nome, tem que ser feita eliminando o rastro que, possivelmente, os poemas anteriores deixaram em nós. A todo o momento somos surpreendidos por uma linguagem ao rés da pele, feita de músculo e sangue e de um atrevimento contra o modo como, sem o sabermos, ou sabendo-o adiamos o seu pensar para outro dia, os outros e os objectos nos (des)organizam o quotidiano. Lembro, a título de exemplo, Confusão Bancária: (o computador que é puta / que o pariu já não computa / nada a fazer caro Alfredo). Regista-se nesta segunda parte o uso da repetição de algumas palavras (tão usado por algumas vanguardas instaladas no Moderno) que têm um efeito musical dodecafónico, espelho de uma realidade fragmentada e que, paradoxalmente, pode ser unida por simples palavras: estas repetições funcionam como uma espécie cola, que acentuando a fragmentação (ou deflagração) do quotidiano unem esses pedaços dispersos no tempo, fixam-se na realidade que é o poema (A Palavra: Conexões). O que estes poemas oferecem ao seu leitor (neste caso, a mim) são pequenas construções, que sem a sua leitura permaneceriam para sempre naquele lado sombrio de uma memória que ser quer esquecida para que possamos ainda viver: O Grande Voo, cujo motivo lembro em notícia de jornal ou televisão, é disso um exemplo.
Não deixa de estar presente, o que é rastro profundo na obra deste poeta, esse olhar terno sobre os seres; sobre o que todos os dias se ergue como uma novidade por sobre os escombros e a estranheza de ainda estarmos vivos. Esta ternura por nós, seus leitores, uma espécie de postura ética do poema (imaginando por detrás o seu autor) desvenda-se com mais facilidade na terceira parte deste livro, que abre com uma citação de Mário de Sá-Carneiro. Na verdade, para se «Lavrar no chão dos versos» é, nos dias de hoje e possivelmente de sempre, aceitar que para dar forma a algum sentido que por nós se quer comunicar é necessário ter a palavra amor e ter amor à palavra. É não perdermos entre os dedos aquele longo fio, feito de morte e sangue, que é toda a gesta que nos antecedeu (gloso aqui o poema Lavrar no Chão dos Versos, que abre o último capítulo). Esta parte do livro pode ser lida como uma continuação dos temas matriciais que povoam a primeira, sobretudo, a evocação de um tempo cumprido; não um folhear de memórias em verso postas, mas o de uma voz que recobre a paisagem (iremos ver que só isto serve a literatura), germinando por entre a neve e numa geografia afectiva (como demos conta na primeira parte) que «sem rumo / vai no jeito da descida».
3. Como bem o sabe João Rui de Sousa, o mundo apenas pode ser escrito e reescrito e nada mais, nem sequer desvendado. Também não é este o ofício ou uso da poesia. A sua função é de uma varredura periódica na face do mundo. O que o leitor terá é um espaço, ou melhor, um duplex, com espaços diferentes mas contíguos. No primeiro avista-se o deserto preenchido por algumas coisas, pode não ser bem um deserto mas o espaço que ficou depois de o poeta varrer essa superfície, no outro espaço reside o lugar da criação dialógica, do que se pretende que o leitor execute com uma leitura que é outra varredura mas em sentido contrário, de recomposição. O poeta, no seu constante aperfeiçoamento da forma, leva-nos da decomposição própria de quem se olha, a um processo de reconstrução de um espaço, onde conviver com o trágico e a perda (qualquer que ela seja, pois o humano é um ser em perda) é um acto de sobrevivência.
[publicado na revista Vértice, nº126, Jan-Fev, 2006]
Subscrever:
Mensagens (Atom)