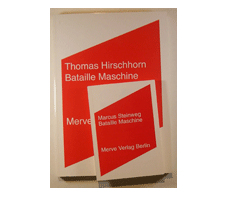Recapitulação, de António Salvado
Ed. «Estudos de Castelo Branco»
2005
Atravessa estes poemas uma língua funda, que vem dos mesmos tempos da infância, e que já pouco se ouve. Há palavras que ressoam na minha memória. Para algumas preciso já de uma guia. E depois é vê-las a participarem nas longas estações das beiras, a comerem a terra que já ninguém quer, exceptuando aqueles (como António Salvado) que fizeram do nosso interior a sua pátria sensível, a terra mátria. Também eu sabia, pela estrada velha, que depois de Ródão era a minha pátria que cheirava. Passam longe as novas rodovias, longe da pobreza e do silêncio com que se fazem ainda muitos homens. Os poemas de António Salvado não tratam apenas desse afecto teimoso que um dia o fez agarrar-se àquelas terras, falam também do sofrer do dia e do seu peso, num misto de alegria e dissabor. Mas nalguns, afastam-se as palavras dolorosas, para darem o lugar àquelas que tratam o amor por tu: é a sua voz secreta peregrina «que ora se veste de azul ora de negro»; ora contemplando a Luz, ora a via que será de pez «onde um anjo caído encolhe as asas».
Mestre no soneto (como é evidente no seu livro «Recapitulação»), enlaçam-me os seus versos em coisas bem antigas e bem próximas, como se o tempo, ou melhor, a memória, fosse a faculdade que resta ao poeta para dizer a vida e o que por este lado bem humano prende o homem à terra: uma voz nua e descoberta / até que o tempo em eco se converta (citação de Luís de Camões, Canção VI, que abre o livro). Não podemos evitar trazer esta voz para a cidade, para que, se possível, amenize este tempo de fragmentos feito, como se ouvíssemos a voz dos que nos precederam e nos ensinaram a escutar a água, a lançar a semente à terra, a vê-la ser planta e flor onde poisávamos os calções quando era Verão e ao corpo apetecia nadar nas ribeiras que descem da Gardunha.
Há também na sua voz um grão de dor, contra a apatia, contra a vaidade, contra o efémero (que a notícia da ida e volta potencia) e, sobretudo, a relevância do desejo que tarda a cumprir-se: «deixar que as impurezas se consumam / e que outra vez as águas raiem» lá no Interior. Há também na sua voz, em versos, a impotência de nada poder fazer contra este tempo, não só aquele que apenas alguns sublima, injustamente, mas do Outono que lhe caiu num corpo por «cicatrizes fundas» percorrido.
Só que nestes poemas, e sobre aquele tempo, ergue-se um bater de asas no restolho e depois um silêncio que nos sorve para o tempo já distante em que nos perdíamos nas «ravinas dos pragais», procurando entre as pedras «um sinal d’ervas raras». E com estes poemas aí nos escondemos do que vem depois e é já presente mas que nós, propositadamente, ignoramos, pois «pela língua ainda vive / uma doçura que a memória guarda».
Ler António Salvado é voltar àquele tempo que é meu, bem em bulício na infância; mas é também senti-lo coberto por outra língua que o poeta usa para o resgatar e mo ceder inteiro.
Ed. «Estudos de Castelo Branco»
2005
Atravessa estes poemas uma língua funda, que vem dos mesmos tempos da infância, e que já pouco se ouve. Há palavras que ressoam na minha memória. Para algumas preciso já de uma guia. E depois é vê-las a participarem nas longas estações das beiras, a comerem a terra que já ninguém quer, exceptuando aqueles (como António Salvado) que fizeram do nosso interior a sua pátria sensível, a terra mátria. Também eu sabia, pela estrada velha, que depois de Ródão era a minha pátria que cheirava. Passam longe as novas rodovias, longe da pobreza e do silêncio com que se fazem ainda muitos homens. Os poemas de António Salvado não tratam apenas desse afecto teimoso que um dia o fez agarrar-se àquelas terras, falam também do sofrer do dia e do seu peso, num misto de alegria e dissabor. Mas nalguns, afastam-se as palavras dolorosas, para darem o lugar àquelas que tratam o amor por tu: é a sua voz secreta peregrina «que ora se veste de azul ora de negro»; ora contemplando a Luz, ora a via que será de pez «onde um anjo caído encolhe as asas».
Mestre no soneto (como é evidente no seu livro «Recapitulação»), enlaçam-me os seus versos em coisas bem antigas e bem próximas, como se o tempo, ou melhor, a memória, fosse a faculdade que resta ao poeta para dizer a vida e o que por este lado bem humano prende o homem à terra: uma voz nua e descoberta / até que o tempo em eco se converta (citação de Luís de Camões, Canção VI, que abre o livro). Não podemos evitar trazer esta voz para a cidade, para que, se possível, amenize este tempo de fragmentos feito, como se ouvíssemos a voz dos que nos precederam e nos ensinaram a escutar a água, a lançar a semente à terra, a vê-la ser planta e flor onde poisávamos os calções quando era Verão e ao corpo apetecia nadar nas ribeiras que descem da Gardunha.
Há também na sua voz um grão de dor, contra a apatia, contra a vaidade, contra o efémero (que a notícia da ida e volta potencia) e, sobretudo, a relevância do desejo que tarda a cumprir-se: «deixar que as impurezas se consumam / e que outra vez as águas raiem» lá no Interior. Há também na sua voz, em versos, a impotência de nada poder fazer contra este tempo, não só aquele que apenas alguns sublima, injustamente, mas do Outono que lhe caiu num corpo por «cicatrizes fundas» percorrido.
Só que nestes poemas, e sobre aquele tempo, ergue-se um bater de asas no restolho e depois um silêncio que nos sorve para o tempo já distante em que nos perdíamos nas «ravinas dos pragais», procurando entre as pedras «um sinal d’ervas raras». E com estes poemas aí nos escondemos do que vem depois e é já presente mas que nós, propositadamente, ignoramos, pois «pela língua ainda vive / uma doçura que a memória guarda».
Ler António Salvado é voltar àquele tempo que é meu, bem em bulício na infância; mas é também senti-lo coberto por outra língua que o poeta usa para o resgatar e mo ceder inteiro.
(O autor publicou também, na mesma editora e em 2005, um conjunto de textos em prosa a que deu o nome Modulações).